Livro recém-lançado na Espanha propõe: o antigo proletariado perdeu seu papel histórico; mas universalizar os direitos e riquezas é caminho para retomar o projeto emancipatório. Há uma condição: recuperar o papel redistributivo do Estado.
Por Hugo de Camps Mora, no CTXT | Tradução: Glauco Faria | Imagem: Monica Bartsch
Nas últimas décadas, o conceito de bens comuns ganhou cada vez mais relevância. Sem dúvida, tornou-se um dos termos-chave em qualquer discussão política e teórica sobre as possibilidades de transformação ecossocial. Neste contexto, o filósofo e sociólogo César Rendueles (Girona, 1975) acaba de publicar Comuntopía: comunes, postcapitalismo y transición ecosocial (Akal), um livro que estuda o papel que os bens comuns poderiam potencialmente desempenhar na construção de um futuro pós-capitalista.
Ao longo do ensaio, é adotada uma perspectiva ampla sobre o conceito de economia. Especificamente, o investigador considera que nem toda a gestão dos recursos sociais – sejam bens ou serviços – foi, nem deveria ser, orientada pelos princípios de otimização do capitalismo. Com base nesta premissa, e apesar de compreender as limitações derivadas da gestão comunal, propõe-se uma proposta particularmente ambiciosa: não pensar os bens comuns como pequenas estruturas paraestatais de organização social; pelo contrário, abordar a difícil questão de como integrar bens comuns em grande escala nos modernos estados de bem-estar social. Só assim, explica, poderemos promover uma transição ecológica justa.
Comuntopía foi publicada no início de 2024. Mantendo o rigor necessário para abordar uma questão deste tipo, Rendueles escreveu um livro acessível que interessará a quem acredita na necessidade de uma transição ecossocial antagônica. Recentemente tive a oportunidade de lhe fazer algumas perguntas sobre o seu trabalho e sobre como os conceitos que ele aborda podem nos ajudar a vislumbrar uma saída para uma crise ecossocial que há tempos não conseguimos ignorar.
No seu livro, você usa a ideia dos bens comuns para pensar numa transição ecossocial para um futuro pós-capitalista. A que se refere o conceito de bens comuns?
No seu sentido mais restrito, os bens comuns são instituições sociais colaborativas que regulam recursos materiais ou imateriais de propriedade coletiva. Podem ser pastagens, florestas, água, bancos de pesca, caça, tarefas relacionadas com a manutenção de estradas, roçada, olaria… Há muito tempo ocorrem em lugares muito diferentes do mundo e recebem todos os tipos de nomes: bens comuns , tequio, procomún, minga, andecha, auzolan … Há um longo debate acadêmico sobre como caracterizar os bens comuns e que tipo de bens, serviços e relações sociais se enquadram nessa categoria. Os economistas tendem a se concentrar nos aspectos relacionados com a propriedade, enquanto os antropólogos tendem a prestar atenção ao tipo de laços sociais que sustentam os bens comuns. Outros autores acreditam que o essencial dos bens comuns não é a sua dimensão institucional, mas a sua capacidade de evocar uma constelação de conceitos relacionados com a solidariedade, a igualdade ou a autocontenção…
Ele explica que uma das características mais representativas do capitalismo é naturalizar tanto a sua própria existência como sistema social, como o tipo de subjetividade que ele gera. Tendo em conta que partimos de um cenário capitalista, onde as subjetividades são maioritariamente assumidas, como podemos garantir que os bens comuns não sejam observados numa perspetiva extrativista?
Às vezes, as teorias da ideologia podem ser um pouco paralisantes. Podem implicar que estamos completamente presos numa espécie de teia cultural – uma ontologia, como por vezes se diz – que molda completamente a nossa subjetividade. Acho que as coisas não são assim.
Certamente, os membros das sociedades pré-capitalistas eram perfeitamente capazes de, ocasionalmente, ver a natureza como uma ameaça externa e como um objeto potencial de exploração, assim como nós somos capazes de entender que a espécie humana faz parte de ecossistemas amplos e que o paradigma do crescimento econômico ilimitado não faz sentido. Acho que a questão não é tanto de mentalidade ou cultura, mas sim o fato de estarmos presos em relações sociais que tornam certas escolhas coletivas muito caras. De fato, esse é um problema prático muito clássico. Marx, por exemplo, atribuiu um papel universal ao proletariado porque considerava que se tratava de um coletivo que, devido à sua situação econômica, política e cultural, poderia promover mudanças que eram de interesse geral, mas que nenhum outro grupo social estava em posição pragmática de promover. Ele acreditava que o restante das classes sociais e as classes baixas estavam presas a interesses de curto prazo. O problema é que está longe de estar claro qual é o equivalente do proletariado marxista na política eco-comunitária. Quais coletivos poderiam ter a força política para pressionar por uma transição ecossocial, desenvolvendo alianças transversais com grupos com outras identidades sociais.
Dada a natureza complexa das nossas sociedades contemporâneas, muito poucas propostas vislumbram um simples regresso aos bens comuns tradicionais. Pelo contrário, a grande maioria assume a existência de instituições como o Estado. Como podemos integrar os bens comuns nos modernos estados de bem-estar social?
Acredito que pensar nos bens comuns como uma alternativa à intervenção pública estatal é um erro que condena este tipo de instituição a desempenhar um papel marginal em qualquer sociedade contemporânea. É verdade que muitos projetos comunitários surgem de uma desconfiança no papel do Estado que tem uma dupla raiz. Por um lado, a cumplicidade estatal no processo de mercantilização global iniciado no final da década de setenta do século passado. Num certo sentido, o neoliberalismo tem sido, acima de tudo, uma teoria e uma prática em torno do Estado e não tanto uma doutrina econômica. Esta denúncia do papel do Estado no austericídio sobrepõe-se, por outro lado, à rejeição das dimensões autoritárias das intervenções públicas. Acredito que ambas as críticas estão parcialmente certas, mas ao mesmo tempo parece-me que em sociedades de massa, complexas e diversas, a intervenção do Estado é insubstituível. Em primeiro lugar, por razões de eficácia e rapidez, algo particularmente importante num contexto de crise ecológica que exige intervenções de grande escala e que não podem ser adiadas. Mas também por razões éticas. As estruturas burocráticas podem ser uma fonte de autoritarismo, mas têm a capacidade de garantir a universalidade e a igualdade de tratamento, o que é muito difícil de desenvolver em ambientes puramente comunitários. Além disso, não é verdade que o Estado e, de forma mais geral, as grandes estruturas burocráticas sejam completamente impermeáveis ao tipo de participação e autogestão característico dos bens comuns. São muitas as experiências de intervenção coletiva na gestão pública, desde a participação dos representantes dos trabalhadores na administração de grandes empresas alemãs até o conselhismo iugoslavo da década de 1970. Todas são experiências muito ambíguas, com aspectos positivos e negativos, e seria um absurdo idealizá-las. Mas penso que nos ensinam que não devemos ver a relação entre o comum e o público como uma oposição, mas como um continuum. Da mesma forma que os liberais veem a relação entre o mercado e o Estado como um amálgama.
O livro explica como, nos últimos anos, a tradição marxista tem prestado mais atenção ao capítulo XXVI do Capital , que localiza as origens do capitalismo nos cercamentos de terras que ocorreram na Inglaterra rural no século XVII. E salienta que, com base nesta ideia, autores como Luxemburgo, Federicci ou Harvey argumentaram que estas privatizações são inerentes ao funcionamento do sistema – e não apenas típicas de uma fase inicial. Porque é tão importante insistir que o capitalismo necessita de processos de intervenção política violenta nas suas origens e para a sua reprodução?
Por pelo menos dois motivos. O primeiro é muito evidente, a grande força ideológica do capitalismo é que ele se apresenta como um conjunto de acordos comerciais voluntários e, portanto, como extremamente compatível com a liberdade política. Todos compreendemos que quando assinamos um contrato de trabalho estamos condicionados pela nossa situação econômica e familiar, mas também é verdade que não se trata de um contrato de servidão. A história da destruição dos bens comuns explica-nos que este regime peculiar de liberdade de mercado foi construído por meio da violência e da coerção e nunca deixou de ser assim, em maior ou menor grau. A segunda é que nos ajuda a normalizar a propriedade coletiva. Os projetos comunais colocam mais uma vez a questão da propriedade no centro da disputa política como um elemento central da capacidade de controle democrático. Não apenas a propriedade dos meios de produção, mas também dos meios de vida num sentido mais amplo. A propriedade coletiva tem uma história muito rica e diversificada que não se limita à propriedade público-estatal como a conhecemos hoje. Tinha a ver, por exemplo, com diferentes restrições à propriedade privada, que não era entendida como propriedade absoluta da coisa possuída – terra, por exemplo – pelo proprietário. Os debates sobre a acumulação original lembram-nos que a limitação do nosso cardápio coletivista ocorreu por uma violenta dieta expropriatória.
Ouvi você dizer que não considera o capitalismo um sistema social particularmente eficiente. A que se refere?
É um argumento clássico do marxismo. O capitalismo é realmente um sistema incapaz de tirar vantagem social das imensas forças produtivas que põe em movimento. O aumento da produtividade deverá permitir-nos relaxar, descontrair e deixar as máquinas trabalharem para nós. Em vez disso, os ciclos capitalistas de reprodução expandida condenam-nos ao desemprego, às crises de acumulação e à destruição ecológica. Dito isto, e para ser honesto, este argumento parece bom, mas há um truque. O fato de o capitalismo ser incapaz de tirar partido das suas próprias forças produtivas não significa necessariamente que exista outra mais eficaz, capaz de o fazer melhor.
Há uma seção inteira do livro dedicada à questão da burocracia. Por que é tão importante quando se pensa na relação entre os bens comuns e a transição ecossocial?
Burocracia é um termo tão carregado de conotações negativas que certamente deveríamos pensar em outra palavra. Na sociologia utilizamos o termo para designar a racionalização da gestão de uma grande organização, seja ela pública ou privada. Os bens comuns são frequentemente reivindicados como uma solução para as irracionalidades e defeitos desse tipo de organização burocrática. Aí acredito que exista um padrão que às vezes passa despercebido. Muitas das reivindicações mais ambiciosas dos comuns vêm de lugares com políticas de bem-estar público muito deficientes, nas quais o Estado mantém uma relação de cumplicidade absoluta com as classes altas e as grandes empresas. Para alguém que vive num país com serviços sociais públicos relativamente avançados e onde foram dados alguns passos na democratização das instituições burocráticas, o benefício de optar por modelos comunais paraestatais certamente não é tão nítida. Em territórios com uma institucionalidade pública sólida, os bens comuns tradicionais podem ser vistos como um retrocesso, na medida em que, em uma sociedade de massa, qualquer iniciativa comunal universalista acabará inevitavelmente precisando de algum tipo de organização formal, e parece mais sensato tentar democratizar as organizações públicas já constituídas comunalmente do que começar do zero. Essa dialética é muito evidente nos desafios da transição ecossocial. Um dos motivos pelos quais as propostas comunitárias são populares no campo do ambientalismo é o fato de as políticas estatais terem sido não apenas cúmplices, mas também protagonistas da crise ambiental. Mas, ao mesmo tempo, a racionalidade burocrática permite mudanças coordenadas em uma escala enorme e com uma velocidade surpreendente. Isso é crucial no contexto da crise ecológica. O melhor exemplo dessa contradição é provavelmente a China. Por um lado, ela é o maior emissor de CO2 do mundo. Por outro lado, está impulsionando a descarbonização em um ritmo que hoje é simplesmente impensável para qualquer outro país sem essa capacidade de intervenção governamental. Na transição ecológica, precisamos de eficiência e velocidade. Políticas públicas de enorme magnitude que mudem o mundo. Abrir mão da burocracia ou mesmo do poder coercitivo do Estado é um suicídio ecossocial. Mas, ao mesmo tempo, precisamos mudar o bom senso partilhado. Pelo menos para que estas políticas de agressão não gerem rejeição popular, mas sejam assumidas, promovidas e defendidas pelos cidadãos. A lógica comunitária – participação, autogoverno… – é muito eficaz quando se trata de integrar na vida cotidiana aquelas mudanças regulatórias que, não nos enganemos, envolvem sacrifícios.
Então, será possível uma transição ecológica justa?
Sim, desde que não pensemos que justo significa angelical. A crise ecológica tem uma característica a qual as forças políticas de esquerda não estão habituadas: a urgência. Em geral, tendemos a pensar que o ciclo longo, a longa duração histórica, joga a favor das opções progressistas. Com a crise ambiental fica evidente que não é esse o caso. Às vezes diz-se que a paciência política é para quem pode pagar. Neste caso, ninguém pode pagar. E temos de assumir esta tarefa urgente numa situação de imensa fraqueza política: com uma mão ruim de pôquer para tentar ganhar um jogo de xadrez. As elites econômicas e políticas estão manobrando para que a transição preserve ou aumente o seu poder, e eu diria que estão se saindo muito bem. Mas mesmo que esta situação de fragilidade não ocorresse, a transição ecológica estaria repleta de contradições e resultados insatisfatórios. Uma transição justa é um processo de mudança em que os custos e os sacrifícios são distribuídos de acordo com as diferentes necessidades. E algo assim implica imensas dificuldades coletivas, algumas tão básicas que as nossas avaliações são comparativas: por exemplo, as pessoas que têm pouco dinheiro comparam a sua situação com a vida de privilégios que os espanhóis ricos levam, e não com os nigerianos pobres. É um preconceito inevitável que todos temos e que produz sentimentos de queixa que dificultam muito as políticas ambientais. Lutar seriamente por uma transição justa significa assumir a natureza conflituosa e limitada dos acordos que podemos alcançar.
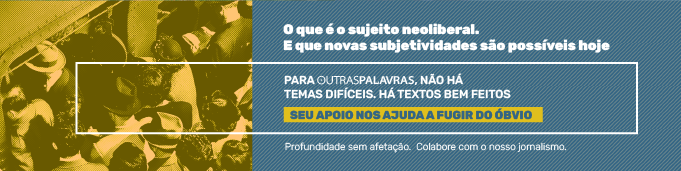

Nenhum comentário:
Postar um comentário