Compartilho com vocês a conversa
ou papo reto que tive com um colega de profissão há dias atrás e com trajetória
semelhante a minha. "Uma das questões que compreendo depois de
exercer a função de professor em escolas públicas, é o significado do conceito
“educação eurocêntrica”.
Para mim, disse ele, era jargão de militante
recalcado do movimento negro , porém, o que percebo é que nas universidades em
geral, aprendi muito mais a pensar a partir dos cânones do pensamento o europeu
ou norte americano, do que a partir do latino americano ou brasileiro. Conclusão, passei
bastante dificuldade para descer e ficar com os pés no chão da escola. O que me livrou de adoecer como muito de meus
colegas, foi a militância em movimentos sociais, grupos culturais e ongs inspirados na teologia
da libertação.
Hoje sei que em muitos cursos de
licenciatura os alunos continuam quase sem lê e discutir Paulo Freire, Aniso
Teixeira, Darcy Ribeiro, Manoel Bonfim e tantos outros. Para mim, aí está uma
das razões das dificuldades e conflitos que se dão entre professores e alunos.
A universidade forma profissionais para ficar perto dos olhos, mas longe do
coração da realidade e das culturas de nossa gente.
Concordei com ele e acrescentei, a
questão da crise na área da saúde que se depara com este problema, conforme
relatos de especialistas em saúde pública e que podem ser encontrados na
internet. A formação acadêmica prepara profissionais da saúde voltados quase
exclusivamente para exercer a função profissional em locais que contenham
equipamentos tecnológicos sofisticados e com doenças ligadas a
contemporaneidade.
Para concluir de forma humorada,
disse: São médicos que podemos exportar, uma boa parte para a Europa e Estados
Unidos, deixando espaço para a importação dos médicos cubanos. Embora, disse
ele, o mais sensato é considerar que o Brasil tem os seus territórios onde
cabem estes médicos tipo exportação, como também os médicos cubanos. Afinal,
não somos uma Belindia?. (uma mistura de Bélgica e India).
Zezito de Oliveira - Educador e Produtor Cultural
Comentários:
Jeffs Antonio (via facebook) Exato,
passei a filosofia lendo tratados místicos da escola francesa e
pensadores excêntricos da escola alemã, cheguei assim a teologia
tentando ressuscitar e convencer-me com Tomás de Aquino. Vesti-me de
Arauto e criei uma bolha hahaha que estourou quando no segundo ano de
sacerdócio fui trabalhar em uma periferia em que duas congregações de votos
religiosos e outra de estrita observância não quiserem ir! Foi quando
me vi oprimido que Paulo Freire e Henrique Dussel fizeram sentido...
Então passei a ler todos os que me ensinaram a odiar sem nunca ter lido
(Arturo Paoli, J. Luis Segundo, Frei Leonardo Boff etc.).
Antônio da Cruz (Via facebook) Durante
todos estes séculos o Brasil deu as costas para a América Latina,
porque, em geral, os brasileiros se achavam "europeus ligeiramente
modificados". E os europeus, por sua vez, nunca deixaram de nos ver
como indesejáveis, exceto quando atendemos
os seus interesses mais imediatos. Esta ojeriza dos médicos
brasileiros aos cubanos, me parece, não ser somente por defesa do
mercado de trabalho, mas também por subestimar a capacidade dos
profissionais formados em universidades que os prepararam para cuidar
de gente com a medicina mais humanizada possível. Isto contraria o
mercado mais agressivo dos laboratórios multinacionais.
Mario Resende (Via facebook, acrescentado em 10 de julho de 2013)
---------------------------------------------------------------------------------
Zezito de Oliveira (Via facebook) Deixo
a dica para quem quiser pesquisar o tema. Sem esquecer de que é
necessário disponibilizar resultados por meios como este. As secretarias da educação e o MEC poderiam amenizar os efeitos citados acima com
programas interdisciplinares(*) de pós graduação
voltados aos profissionais que atuam na educação básica, abordando
questões relacionadas as necessidades ou dificuldades, bem como
valorizando o conhecimento acumulado por estes profisisonais. Penso que o
programa Mais Cultura nas Escolas com caracteristicas mais expandidas e
alcançando a pesquisa e reflexão sobre cultura e educação pode
contribuir, assim como a formação na área da pós-graduação sobre a aplicação da Lei Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008 "Altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de
2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, entre diversas
outras possibilidades.
(*) detalhe: Essa sugestão fui publicada antes de ir ao ar (18/05/2013) o programa Globo Universidade (depois da matéria abaixo).
-------------------------------------------------------------------------
Só descolonização da subjetividade trará mudança à América Latina, diz Walter Mignolo
Para o pesquisador argentino, a criação de Estados nacionais após os
movimentos de independência apenas abalou a ordem mundial
moderna/colonial, mas só a descolonização do ser e do saber levará a uma
mudança.
Fonte: Deutsche Welle AQUI
Como o senhor avalia o
surgimento de uma nova esquerda pós-Guerra Fria no continente? Trata-se
de uma ruptura ou é possível observá-la como um desenvolvimento político
contínuo desde as independências?
Depois do fim da Guerra Fria, e talvez até o ano 2000, a esquerda
boliviana foi, sem dúvida, a que mais contribuiu para a reorientação da
esquerda moderno-colonial (que os europeus chamam apenas de esquerda
moderna) e que se abriu para a compreensão histórica e as demandas
indígenas propostas pelos escritos de José Carlos Mariátegui no Peru.
Ela é, ao mesmo tempo, continuidade e câmbio com a esquerda
nacionalista.
No entanto, a diferença colonial com projetos indígenas e afros
persiste. A esquerda é um projeto "branco", para quem o fenômeno de
classe é fundamental, enquanto que projetos indígenas e afros partem da
raça como categoria fundamental.
Além disso, existe a questão do patriarcado, mais fácil de relacionar
com a questão racial do que com a esquerda que mantém o fenômeno das
classes como fundamento. Creio que, no futuro, os movimentos feministas,
junto com projetos indígenas e afros, ganharão terreno sobre a primazia
do marxismo e a Teologia da Libertação, as duas opções dissidentes que
indígenas, afros e mulheres possuíam antes de iniciar seus próprios
projetos.
Pode-se dizer que a estrutura
colonial mantida desde a vigência do Colonialismo provoca a violação dos
direitos humanos, a concentração de renda e a marginalização política
de grupos inteiros da sociedade. Será possível superar essa ordem
política e social sem uma nova revolução material?
Não se muda o mundo, mas sim as pessoas que fazem, controlam e
desfazem o mundo. Uma "revolução" material sem a descolonização do
conhecimento e da subjetividade só leva a mudanças de conteúdo, mas não
dos termos na organização do mundo. Para isso, falta uma perspectiva que
não seja nem o capitalismo nem o marxismo, mas descolonial. Ou seja,
que as instituições (governo, economia, educação, saúde, alimentação)
sejam postas a serviço da vida e não a vida a serviço das instituições.
Hoje a instituição que se procura salvar é o capitalismo. Nos dizem
numa mesma notícia, com frequência, que a economia cresce, mas o
desemprego também. A conexão que os jornais não fazem é que o que
importa é a instituição, não a vida.
O projeto descolonial do qual faço parte inverte este processo: só a
descolonização do ser e do saber levará a um câmbio(mudança) do horizonte
econômico e político. Precisamos concretizar o "sonho descolonial",
segundo o qual as instituições estão a serviço da vida, em vez de por as
pessoas a serviço das instituições. Esta fórmula é a base da retórica
moderna e da lógica do colonialismo (duas caras da mesma moeda), da qual
precisamos nos desprender a fim de permitir mudanças radicais.
Revoluções materiais guiadas pela esquerda não nos levam muito longe,
pois mantêm os termos do discurso, mudando apenas os conteúdos, com
resultados desastrosos até então.
Deutsche Welle: Os
movimentos de independência na América Latina completam 200 anos. Mas
até que ponto é historicamente correto falar em independência? Seria
possível unificar os movimentos de independência na América Latina em
uma única corrente ou foram eles causados por fenômenos históricos
distintos?
Walter Mignolo: Seria equivocado limitar a análise dos
"movimentos de independência" apenas à América Latina. Pois a "América
Latina" não existia no momento em que ocorreu a assim chamada
independência. O que houve foi o desmembramento dos vice-reinados
espanhóis nas Índias Ocidentais sob o ponto de vista dos espanhóis e da
população crioula que buscava a independência da Espanha.
Acho que é hora de deixar para trás o imaginário nacional e ver o que
aconteceu como o primeiro abalo da ordem mundial moderna/colonial,
quando anglo-crioulos formaram os Estados Unidos na América do Norte,
afro-crioulos fundaram a República do Haiti e crioulos hispânicos
fundaram diversas repúblicas de Argentina e Chile a Estados Unidos do
México.
Como você avalia o caso do Brasil, único dos países latino-americanos a permanecer uma monarquia após a independência?
O Brasil não é necessariamente uma anomalia, mas uma consequência de
conflitos imperiais, de diferenças internas entre impérios europeus. No
final do século 18, Inglaterra, Alemanha e França assumiram a liderança
global, enquanto Portugal e Espanha perderam poder. Portugal transferiu a
administração monárquica para o Brasil a fim de escapar dos avanços da
França imperial no sul da Europa, antes de colonizar a norte da África.
O Brasil é uma anomalia apenas se os Estados Unidos da América do
Norte, o Haiti e as formações republicanas da América espanhola forem
tomadas como modelo. Mas não se observarmos a totalidade da formação
atlântica desde o século 16, incluindo tanto a formação das colônias
quanto os conflitos entre as nações imperiais – Espanha, Portugal,
Inglaterra e França.
Alemanha e Itália não são países atlânticos e sua expansão colonial é
mínima em relação a eles. Curiosamente, Alemanha e Itália – países sem
forte dominação colonial – e Espanha – país imperial que perdeu seu
último domínio em 1898 – foram os três países que engendraram Hitler,
Mussolini e Franco.
Historicamente, é correto
dizer que os movimentos de independência na América Latina foram
consequência da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa e da
independência dos Estados Unidos?
Pode ser. Mas não acho isso relevante, a menos que ainda estejamos
presos na análise moderna, que procura quem influenciou quem, em vez de
observar as turbulências do sistema mundial moderno/colonial. Tais
revoluções devem ser vistas como parte de um abalo que alterou a
formação do mundo atlântico.
A Revolução Inglesa de 1647-1649 e a Revolução Gloriosa nem poderiam
ter acontecido sem os alcances extraordinários que a Inglaterra obteve
do tráfico negreiro e das plantações no Caribe. Daí se deu a formação de
uma burguesia comercial e financeira em Londres, Liverpool e
Manchester.
Agora, é preciso fazer uma distinção fundamental entre as revoluções modernas na Europa e as revoluções modernas/coloniais
nas colônias. Antes de uma questão de influência, precisamos entender o
campo sistêmico de forças. A diferença básica é que a revolução
britânica e a francesa colocaram a burguesia no poder em substituição à
monarquia.
Nas Américas, as revoluções não engendraram uma burguesia, mas uma
elite colonial que assumiu o controle da economia, da autoridade, do
conhecimento, do sexo e da sexualidade, dando continuidade à política
imperial com relação aos afro-descendentes e à população indígena.
Enquanto, na Europa, a burguesia subiu ao poder, nas colônias, a
elite colonial era basicamente uma elite de proprietários de terras e
minas dependente dos efeitos crescentes da Revolução Industrial.
Trata-se de uma elite ao serviço da burguesia européia, que fornecia
recursos naturais para a Revolução Industrial.
O que definiu o
desenvolvimento completamente diferente tomado pelos Estados Unidos após
sua independência do destino dos países latino-americanos?
Os EUA, ao contrário dos vice-reinados hispano-americanos e da
monarquia brasileira que ocupa quase todo o século 19, eram colônias da
Inglaterra, país que estava assumindo a liderança imperial. Nas colônias
inglesas que comporão os EUA, surgiu não só uma forte elite comercial
mas também política, o que não foi o caso nas colônias inglesas no
Caribe insular, por exemplo.
Os EUA se formaram sobre a base da elite política dos dissidentes crioulos, preconizados pelos founding fathers. Em contrapartida, as demais colônias inglesas eram controladas por plantation owners com interesses estritamente econômicos, e não políticos.
Já as independências nas colônias ibéricas (mais cedo na América
hispânica continental e mais tardias no Brasil e na América hispânica
caribenha, como em Cuba, Porto Rico e República Dominicana) são
independências de países imperiais que, ao final do século 18, haviam
perdido a segunda era moderna.
Como se vê, não se trata de influências de causas e efeitos, mas da
complexidade dos vínculos histórico-estruturais na formação do
sistema-mundo moderno-colonial em seus primeiros 300 anos de existência.
Lembre-se que, enquanto isso ocorria na Europa e na América, a Holanda e
a Inglaterra começavam já suas incursões na Índia e logo a França o
faria no Sudeste Asiático e na África.
Além disso, nas colônias inglesas no chamado Novo Mundo,
conquistadores chegaram ao sul e ao Caribe, e peregrinos ao norte. Estes
últimos não buscavam conquistas, mas liberdade, eram dissidentes da
monarquia inglesa que, até a metade do século 17, não se diferenciava
muito da castelhana.
Os peregrinos trouxeram consigo a energia política que os levara a
deixar a Inglaterra e os fará construir politicamente o Novo Mundo.
Dessa linha provém a formação dos EUA. Na América Ibérica, nada disso
aconteceu. Nenhum contingente da coroa castelhana emigrou da península e
se refugiou na América.
Até que ponto a América Latina é realmente "latina"? O nome "América Latina" está condenado a desaparecer?
Se observar bem, cada vez menos se usa América Latina, dando preferência a América do Sul. Como expliquei em meu livro La idea de América Latina,
a latinidade diz respeito apenas à população "branca" de ascendência
europeia. Não vejo por que a população de ascendência africana teria que
aceitar sua latinidade, em vez de sua africanidade. Da mesma forma,
poderíamos falar em América Africana em vez de Latina. E de América
Indígena, em vez de Africana ou Latina.
A latinidade foi um projeto imperial francês, quando o país, a partir
do século 19, tentou recuperar a liderança dos países latinos do sul da
Europa (Itália, Portugal, Espanha), a fim de enfrentar a liga
anglo-saxônica da Inglaterra e da Alemanha. Esta divisão da Europa entre
a Europa do Norte e do Sul, a anglo-saxônica e a latina, a protestante e
a católica, se reproduz nas Américas: a América de Jefferson e a de
Bolívar.
Pois esta história está chegando ao fim, o termo América Latina
"incomoda" muita gente. Não só aqueles cujas memórias não são
greco-romanas, e sim africanas ou indígenas, mas também os de
ascendência europeia que consideram um atropelo impor a "latinidade"
como um marco subcontinental. Tudo está mudando hoje, principalmente no
Caribe insular (francês, inglês, holandês e espanhol) e continental. Aí a
latinidade se reduz a um mínimo sustentável.
Além disso, é preciso perguntar quão "anglos" são os EUA, com 45
milhões de "latinos". Enquanto, na América do Sul e no Caribe, a
latinidade se confunde com um termo hegemônico, nos EUA ela se converte
em um desafio para a hegemonia da "anglicidade".
E por que os Estados Unidos reivindicam para si o nome América?
Durante o século 16 e todo o 17, a demografia das Américas era
composta de habitantes nativos, europeus principalmente ibéricos e
africanos escravizados. Durante quase todo o século 16, não se
encontrava um inglês nem por casualidade. Walter Raleigh fundou uma
colônia em Ronaoke em 1584, onde hoje é a Carolina do Norte. Os
peregrinos chegaram à costa do que seria a Nova Inglaterra no começo do
século 17.
Eles escaparam do absolutismo da coroa inglesa e, se não eram
revolucionários, atuavam em dissensão. Isso não houve nem na Espanha nem
em Portugal. Na Inglaterra, a situação política no século 17 foi
acompanhada pelo crescimento econômico das plantações, principalmente no
Caribe. Foi aí que a linha da teoria política de Maquiavel a Locke se
afirmou na propriedade privada como critério fundamental do indivíduo
soberano.
É isso que legitima Locke com relação à Revolução Gloriosa: seu
tratado de governo reafirma os direitos da nascente burguesia, da
soberania individual em relação à propriedade privada. Nada disso
existiu na Península Ibérica, nem nas colônias luso-hispânicas.
Quem explicou o que quero dizer com clareza e erudição foi o venezuelano Enzo del Bufalo, num livro intitulado Americanismos y democracia
(2002). Sua tese é de que o sujeito moderno, que já anunciava Cervantes
na literatura e Descartes na filosofia, se concretizou politicamente na
revolução colonial que gerou os Estados Unidos. Del Bufalo acerta ao
distinguir entre americanismo e EUA. O americanismo é um projeto
político que levou à formação do sujeito moderno e soberano,
fundamentado na propriedade privada e que surge precisamente na América.
Esse projeto culminou com a formação do primeiro Estado moderno, os
Estados Unidos da América do Norte (antes mesmo da Revolução Francesa). A
historiografia europeia contou a história relegando a revolução
americana a segundo plano. O sonho americano não são os Estados Unidos,
mas o americanismo que os precede e funda. E esse mesmo Estado pode
trair o sonho americano, como aconteceu no governo do segundo Bush. Uma
das tarefas de Obama é precisamente restaurar esse americanismo.
Como disse Del Bufalo: "Os Estados Unidos da América são como a
prática da América, que não é exatamente igual à América como projeto.
Por sua vez, a América como utopia pode ser assumida por outros Estados
sem nunca realmente se converter em uma prática, como ocorreu com os
Estados latino-americanos".
O fim da Guerra Fria altera o
significado e a predominância ideológica e econômica dos Estados Unidos
na América Latina (e no mundo)?
Sim, muda muitas coisas, que eu resumiria em dois aspectos. Em
primeiro lugar, a euforia e o senso de vitória da Europa Ocidental e dos
EUA criaram as condições para os dois pilares da administração Bush: a
invasão do Iraque e o colapso de Wall Street. Ou seja, o colapso do
controle da autoridade e da economia pelos EUA.
Em consequência disso e do crescimento principalmente da China, mas
também de outros países produtores de petróleo (Irã, Venezuela, Rússia),
entramos em uma ordem policêntrica interconectada por um tipo de
economia, a capitalista.
Quatro trajetórias dominarão o futuro global:
A primeira delas é o fim do ciclo de 500 anos de hegemonia e
dominação ocidental, com a qual a administração Bush conseguiu acabar. A
segunda é a deswesternização,
que está sendo articulada no Leste e no Sudeste Asiático e consiste em
aceitar a economia capitalista, mas disputar o controle da autoridade,
do conhecimento, dos direitos humanos, das relações internacionais etc.
A terceira é a reorientação da esquerda, que tem várias caras: a
esquerda europeia clássica, a esquerda europeia dos países do Sul,
ligada ao Fórum Social Mundial, e a esquerda colonial, como é o caso da
Bolívia, por exemplo.
E, por último, vem o descolonialismo, que começou durante a Guerra
Fria com os movimentos de libertação nas colônias inglesas e francesas
na África e na Ásia, mas que tem hoje outra cara, tanto epistêmica
quanto política, na América do Sul e no Caribe.
Evo Morales é a primeira concretização desta tendência, enquanto os
zapatistas foram o primeiro movimento social a aplicar o
descolonialismo. Por mais que não tenham usado o termo, seus dizeres e
ações eram descoloniais. Estas quatro tendências serão analisadas mais
detalhadamente no meu próximo livro, The darker side of Western Modernity.
Como o senhor avalia o
surgimento de uma nova esquerda pós-Guerra Fria no continente? Trata-se
de uma ruptura ou é possível observá-la como um desenvolvimento político
contínuo desde as independências?
Depois do fim da Guerra Fria, e talvez até o ano 2000, a esquerda
boliviana foi, sem dúvida, a que mais contribuiu para a reorientação da
esquerda moderno-colonial (que os europeus chamam apenas de esquerda
moderna) e que se abriu para a compreensão histórica e as demandas
indígenas propostas pelos escritos de José Carlos Mariátegui no Peru.
Ela é, ao mesmo tempo, continuidade e câmbio com a esquerda
nacionalista.
No entanto, a diferença colonial com projetos indígenas e afros
persiste. A esquerda é um projeto "branco", para quem o fenômeno de
classe é fundamental, enquanto que projetos indígenas e afros partem da
raça como categoria fundamental.
Além disso, existe a questão do patriarcado, mais fácil de relacionar
com a questão racial do que com a esquerda que mantém o fenômeno das
classes como fundamento. Creio que, no futuro, os movimentos feministas,
junto com projetos indígenas e afros, ganharão terreno sobre a primazia
do marxismo e a Teologia da Libertação, as duas opções dissidentes que
indígenas, afros e mulheres possuíam antes de iniciar seus próprios
projetos.
Entrevista: Rodrigo Abdelmalack
Revisão: Roselaine Wandscheer
-------------------------------------------------------------------------
UFBA oferece curso de bacharelado interdisciplinar AQUI
Produção Cultural na Escola. AQUI
sábado, 10 de novembro de 2012
Universidade das Quebradas propõe o encontro de culturas da periferia
Curso desenvolvido pela UFRJ se tornou referência no meio artístico
 Aula do curso de Literatura na Grécia Antiga promovido na Universidade das Quebradas (Foto: Divulgação)
Fonte: Site Globo Universidade
Aula do curso de Literatura na Grécia Antiga promovido na Universidade das Quebradas (Foto: Divulgação)
Fonte: Site Globo Universidade
A fórmula não poderia ser melhor. De um lado a universidade, que entra
com o saber “formalizado”, de outro os alunos, que trazem para a sala de
aula suas sensibilidades e vivências do mundo artístico. Esse modelo
vem acontecendo na Universidade das Quebradas,
projeto de extensão criado em 2010 e vinculado ao Programa Avançado de
Cultura Contemporânea (PACC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O objetivo da iniciativa é o de promover a aproximação entre a
universidade e agitadores culturais da periferia da cidade do Rio de
Janeiro. São artistas e produtores oriundos dos mais diferentes
"territórios" cariocas, com diferentes experiências e atuações
culturais.
A ideia da Universidade das Quebradas nasceu a partir da tese de
doutorado sobre rap, feita na UFRJ pela pesquisadora Numa Ciro,
atualmente coordenadora adjunta do curso, com orientação de Heloísa
Buarque de Holanda, que também atua no projeto. A proposta inicial da
tese era a de reunir pessoas ligadas à cultura na periferia do Rio de
Janeiro para trocarem informações. Com o projeto de extensão criado e o
curso formatado, a primeira turma começou, em 2010, com 40 alunos, que
são chamados de “quebradeiros”. Em 2011, esse número subiu para 50,
sendo que a nova turma, que iniciou em agosto de 2012, está com 70
alunos, que foram selecionados entre 300 candidatos. Mesmo com o curso
concluído, muitos ex-alunos retornam para assistir às aulas, reforçando o
lema da universidade de “uma vez quebradeiro, sempre quebradeiro”.
“A Universidade das Quebradas é uma praça de trocas. Todos nós saímos
daqui com novos conhecimentos a cada encontro. Temos quebradeiros de
muitos bairros da cidade e arredores, desde Santa Cruz a São Gonçalo.
Eles trabalham em projetos sociais, artísticos e educacionais em seus
bairros, são multiplicadores”, explica Beá Meira, uma das
desenvolvedoras do projeto. O curso, que tem duração de um ano (180
horas), é desenvolvido em cinco áreas da produção cultural, sendo elas:
literatura, artes visuais, teatro, dança e música, e aborda a produção
artística e cultural em momentos específicos, incluindo fases como o
romantismo, modernismo e contemporaneidade.
As aulas acontecem uma vez por semana no Colégio Brasileiro de Altos
Estudos, antiga Casa do Estudante, no Flamengo. Uma vez por mês, são
realizados também os “territórios das quebradas”, encontros em que os
quebradeiros mostram suas reflexões sobre o território onde vivem. Os
alunos apresentam material próprio sobre os mais diversos temas. Já
houve território em que os alunos falaram sobre vestuário feminino no
funk, por exemplo, ou sobre grafite, no qual foram apresentados os
termos mais comuns utilizados entre os grafiteiros e o que eles
significam.
“O território das quebradas consiste em uma mesa na qual os
quebradeiros, previamente inscritos, falam durante 20 minutos. Eles
apresentam seus pontos de vista sobre diversos temas da cultura da
periferia. Em seguida, rolam os debates. À tarde, o encontro é encerrado
com a apresentação de um sarau dos palestrantes”, conta Beá Meira.
O curso aborda disciplinas como Filosofia, Cultura Africana, Arte e
Arquitetura na Antiguidade, Epopeia Clássica, Mitos Gregos e Africanos,
Mitologia Yoruba, Romantismo na Arte e na Literatura, Literatura Negra e
de Cordel, entra outras. Já na segunda parte do curso, são ministradas
aulas de cinema, música, dança, teatro e de elaboração de projeto
culturais, além de oficinas de linguagem e expressão ministrada em
parceria com a Fundação Roberto Marinho.
Antonio Cândido indica 10 livros para conhecer o Brasil Fonte - blog da boitempo AQUI
Quando nos
pedem para indicar um número muito limitado de livros importantes para
conhecer o Brasil, oscilamos entre dois extremos possíveis: de um lado,
tentar uma lista dos melhores, os que no consenso geral se situam acima
dos demais; de outro lado, indicar os que nos agradam e, por isso,
dependem sobretudo do nosso arbítrio e das nossas limitações. Ficarei
mais perto da segunda hipótese.
Como
sabemos, o efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere à
simples informação, depende de muita coisa além do valor que ele possa
ter. Depende do momento da vida em que o lemos, do grau do nosso
conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Para quem pouco leu e
pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte reveladora. Para
quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado. Além
disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo autor
(e portanto aproveitá-lo ao máximo) e não com outro, independente da
valia de ambos.
Por isso, é
sempre complicado propor listas reduzidas de leituras fundamentais. Na
elaboração da que vou sugerir (a pedido) adotei um critério simples: já
que é impossível enumerar todos os livros importantes no caso, e já que
as avaliações variam muito, indicarei alguns que abordam pontos a meu
ver fundamentais, segundo o meu limitado ângulo de visão. Imagino que
esses pontos fundamentais correspondem à curiosidade de um jovem que
pretende adquirir boa informação a fim de poder fazer reflexões
pertinentes, mas sabendo que se trata de amostra e que, portanto, muita
coisa boa fica de fora.
São
fundamentais tópicos como os seguintes: os europeus que fundaram o
Brasil; os povos que encontraram aqui; os escravos importados sobre os
quais recaiu o peso maior do trabalho; o tipo de sociedade que se
organizou nos séculos de formação; a natureza da independência que nos
separou da metrópole; o funcionamento do regime estabelecido pela
independência; o isolamento de muitas populações, geralmente mestiças; o
funcionamento da oligarquia republicana; a natureza da burguesia que
domina o país. É claro que estes tópicos não esgotam a matéria, e basta
enunciar um deles para ver surgirem ao seu lado muitos outros. Mas penso
que, tomados no conjunto, servem para dar uma ideia básica.
Entre
parênteses: desobedeço o limite de dez obras que me foi proposto para
incluir de contrabando mais uma, porque acho indispensável uma
introdução geral, que não se concentre em nenhum dos tópicos enumerados
acima, mas abranja em síntese todos eles, ou quase. E como introdução
geral não vejo nenhum melhor do que O povo brasileiro (1995),
de Darcy Ribeiro, livro trepidante, cheio de ideias originais, que
esclarece num estilo movimentado e atraente o objetivo expresso no
subtítulo: “A formação e o sentido do Brasil”.
Quanto à caracterização do português, parece-me adequado o clássico Raízes do Brasil
(1936), de Sérgio Buarque de Holanda, análise inspirada e profunda do
que se poderia chamar a natureza do brasileiro e da sociedade brasileira
a partir da herança portuguesa, indo desde o traçado das cidades e a
atitude em face do trabalho até a organização política e o modo de ser.
Nele, temos um estudo de transfusão social e cultural, mostrando como o
colonizador esteve presente em nosso destino e não esquecendo a
transformação que fez do Brasil contemporâneo uma realidade não mais
luso-brasileira, mas, como diz ele, “americana”.
Em relação
às populações autóctones, ponho de lado qualquer clássico para indicar
uma obra recente que me parece exemplar como concepção e execução: História dos índios do Brasil
(1992), organizada por Manuela Carneiro da Cunha e redigida por
numerosos especialistas, que nos iniciam no passado remoto por meio da
arqueologia, discriminam os grupos linguísticos, mostram o índio ao
longo da sua história e em nossos dias, resultando uma introdução sólida
e abrangente.
Seria bom se
houvesse obra semelhante sobre o negro, e espero que ela apareça quanto
antes. Os estudos específicos sobre ele começaram pela etnografia e o
folclore, o que é importante, mas limitado. Surgiram depois estudos de
valor sobre a escravidão e seus vários aspectos, e só mais recentemente
se vem destacando algo essencial: o estudo do negro como agente ativo do
processo histórico, inclusive do ângulo da resistência e da rebeldia,
ignorado quase sempre pela historiografia tradicional. Nesse tópico
resisto à tentação de indicar o clássico O abolicionismo
(1883), de Joaquim Nabuco, e deixo de lado alguns estudos
contemporâneos, para ficar com a síntese penetrante e clara de Kátia de
Queirós Mattoso, Ser escravo no Brasil (1982), publicado
originariamente em francês. Feito para público estrangeiro, é uma
excelente visão geral desprovida de aparato erudito, que começa pela
raiz africana, passa à escravização e ao tráfico para terminar pelas
reações do escravo, desde as tentativas de alforria até a fuga e a
rebelião. Naturalmente valeria a pena acrescentar estudos mais
especializados, como A escravidão africana no Brasil (1949), de Maurício Goulart ou A integração do negro na sociedade de classes
(1964), de Florestan Fernandes, que estuda em profundidade a exclusão
social e econômica do antigo escravo depois da Abolição, o que constitui
um dos maiores dramas da história brasileira e um fator permanente de
desequilíbrio em nossa sociedade.
Esses três
elementos formadores (português, índio, negro) aparecem
inter-relacionados em obras que abordam o tópico seguinte, isto é, quais
foram as características da sociedade que eles constituíram no Brasil,
sob a liderança absoluta do português. A primeira que indicarei é Casa grande e senzala
(1933), de Gilberto Freyre. O tempo passou (quase setenta anos), as
críticas se acumularam, as pesquisas se renovaram e este livro continua
vivíssimo, com os seus golpes de gênio e a sua escrita admirável –
livre, sem vínculos acadêmicos, inspirada como a de um romance de
alto voo. Verdadeiro acontecimento na história da cultura brasileira,
ele veio revolucionar a visão predominante, completando a noção de raça
(que vinha norteando até então os estudos sobre a nossa sociedade) pela
de cultura; mostrando o papel do negro no tecido mais íntimo da vida
familiar e do caráter do brasileiro; dissecando o relacionamento das
três raças e dando ao fato da mestiçagem uma significação inédita. Cheio
de pontos de vista originais, sugeriu entre outras coisas que o Brasil é
uma espécie de prefiguração do mundo futuro, que será marcado pela
fusão inevitável de raças e culturas.
Sobre o mesmo tópico (a sociedade colonial fundadora) é preciso ler também Formação do Brasil contemporâneo, Colônia
(1942), de Caio Prado Júnior, que focaliza a realidade de um ângulo
mais econômico do que cultural. É admirável, neste outro clássico, o
estudo da expansão demográfica que foi configurando o perfil do
território – estudo feito com percepção de geógrafo, que serve de base
física para a análise das atividades econômicas (regidas pelo
fornecimento de gêneros requeridos pela Europa), sobre as quais Caio
Prado Júnior engasta a organização política e social, com articulação
muito coerente, que privilegia a dimensão material.
Caracterizada
a sociedade colonial, o tema imediato é a independência política, que
leva a pensar em dois livros de Oliveira Lima: D. João VI no Brasil (1909) e O movimento da Independência
(1922), sendo que o primeiro é das maiores obras da nossa
historiografia. No entanto, prefiro indicar um outro, aparentemente fora
do assunto: A América Latina, Males de origem (1905), de
Manuel Bonfim. Nele a independência é de fato o eixo, porque, depois de
analisar a brutalidade das classes dominantes, parasitas do trabalho
escravo, mostra como elas promoveram a separação política para conservar
as coisas como eram e prolongar o seu domínio. Daí (é a maior
contribuição do livro) decorre o conservadorismo, marca da política e do
pensamento brasileiro, que se multiplica insidiosamente de várias
formas e impede a marcha da justiça social. Manuel Bonfim não tinha a
envergadura de Oliveira Lima, monarquista e conservador, mas tinha
pendores socialistas que lhe permitiram desmascarar o panorama da
desigualdade e da opressão no Brasil (e em toda a América Latina).
Instalada a monarquia pelos conservadores, desdobra-se o período imperial, que faz pensar no grande clássico de Joaquim Nabuco: Um estadista do Império
(1897). No entanto, este livro gira demais em torno de um só
personagem, o pai do autor, de maneira que prefiro indicar outro que tem
inclusive a vantagem de traçar o caminho que levou à mudança de regime:
Do Império à República (1972), de Sérgio Buarque de Holanda, volume que faz parte da História geral da civilização brasileira,
dirigida por ele. Abrangendo a fase 1868-1889, expõe o funcionamento da
administração e da vida política, com os dilemas do poder e a natureza
peculiar do parlamentarismo brasileiro, regido pela figura-chave de
Pedro II.
A seguir,
abre-se ante o leitor o período republicano, que tem sido estudado sob
diversos aspectos, tornando mais difícil a escolha restrita. Mas penso
que três livros são importantes no caso, inclusive como ponto de partida
para alargar as leituras.
Um tópico de
grande relevo é o isolamento geográfico e cultural que segregava boa
parte das populações sertanejas, separando-as da civilização urbana ao
ponto de se poder falar em “dois Brasis”, quase alheios um ao outro. As
consequências podiam ser dramáticas, traduzindo-se em exclusão
econômico-social, com agravamento da miséria, podendo gerar a violência e
o conflito. O estudo dessa situação lamentável foi feito a propósito do
extermínio do arraial de Canudos por Euclides da Cunha n’Os sertões
(1902), livro que se impôs desde a publicação e revelou ao homem das
cidades um Brasil desconhecido, que Euclides tornou presente à
consciência do leitor graças à ênfase do seu estilo e à imaginação
ardente com que acentuou os traços da realidade, lendo-a, por assim
dizer, na craveira da tragédia. Misturando observação e indignação
social, ele deu um exemplo duradouro de estudo que não evita as
avaliações morais e abre caminho para as reivindicações políticas.
Da
Proclamação da República até 1930 nas zonas adiantadas, e praticamente
até hoje em algumas mais distantes, reinou a oligarquia dos
proprietários rurais, assentada sobre a manipulação da política
municipal de acordo com as diretrizes de um governo feito para atender
aos seus interesses. A velha hipertrofia da ordem privada, de origem
colonial, pesava sobre a esfera do interesse coletivo, definindo uma
sociedade de privilégio e favor que tinha expressão nítida na atuação
dos chefes políticos locais, os “coronéis”. Um livro que se recomenda
por estudar esse estado de coisas (inclusive analisando o lado positivo
da atuação dos líderes municipais, à luz do que era possível no estado
do país) é Coronelismo, enxada e voto (1949), de Vitor Nunes
Leal, análise e interpretação muito segura dos mecanismos políticos da
chamada República Velha (1889-1930).
O último
tópico é decisivo para nós, hoje em dia, porque se refere à modernização
do Brasil, mediante a transferência de liderança da oligarquia de base
rural para a burguesia de base industrial, o que corresponde à
industrialização e tem como eixo a Revolução de 1930. A partir desta
viu-se o operariado assumir a iniciativa política em ritmo cada vez mais
intenso (embora tutelado em grande parte pelo governo) e o empresário
vir a primeiro plano, mas de modo especial, porque a sua ação se
misturou à mentalidade e às práticas da oligarquia. A bibliografia a
respeito é vasta e engloba o problema do populismo como mecanismo de
ajustamento entre arcaísmo e modernidade. Mas já que é preciso fazer uma
escolha, opto pelo livro fundamental de Florestan Fernandes, A revolução burguesa no Brasil
(1974). É uma obra de escrita densa e raciocínio cerrado, construída
sobre o cruzamento da dimensão histórica com os tipos sociais, para
caracterizar uma nova modalidade de liderança econômica e política.
Chegando
aqui, verifico que essas sugestões sofrem a limitação das minhas
limitações. E verifico, sobretudo, a ausência grave de um tópico: o
imigrante. De fato, dei atenção aos três elementos formadores
(português, índio, negro), mas não mencionei esse grande elemento
transformador, responsável em grande parte pela inflexão que Sérgio
Buarque de Holanda denominou “americana” da nossa história
contemporânea. Mas não conheço obra geral sobre o assunto, se é que
existe, e não as há sobre todos os contingentes. Seria possível
mencionar, quanto a dois deles, A aculturação dos alemães no Brasil (1946), de Emílio Willems; Italianos no Brasil (1959), de Franco Cenni, ou Do outro lado do Atlântico (1989), de Ângelo Trento – mas isso ultrapassaria o limite que me foi dado.
No fim de
tudo, fica o remorso, não apenas por ter excluído entre os autores do
passado Oliveira Viana, Alcântara Machado, Fernando de Azevedo, Nestor
Duarte e outros, mas também por não ter podido mencionar gente mais
nova, como Raimundo Faoro, Celso Furtado, Fernando Novais, José Murilo
de Carvalho, Evaldo Cabral de Melo etc. etc. etc. etc.
* Artigo publicado na edição 41 da revista Teoria e Debate – em 30/09/2000
Antonio Candido é sociólogo, crítico literário e ensaísta.
Zezito de Oliveira - Educador e Produtor Cultural
Comentários:
Jeffs Antonio (via facebook) Exato,
passei a filosofia lendo tratados místicos da escola francesa e
pensadores excêntricos da escola alemã, cheguei assim a teologia
tentando ressuscitar e convencer-me com Tomás de Aquino. Vesti-me de
Arauto e criei uma bolha hahaha que estourou quando no segundo ano de
sacerdócio fui trabalhar em uma periferia em que duas congregações de votos
religiosos e outra de estrita observância não quiserem ir! Foi quando
me vi oprimido que Paulo Freire e Henrique Dussel fizeram sentido...
Então passei a ler todos os que me ensinaram a odiar sem nunca ter lido
(Arturo Paoli, J. Luis Segundo, Frei Leonardo Boff etc.).
(*) detalhe: Essa sugestão fui publicada antes de ir ao ar (18/05/2013) o programa Globo Universidade (depois da matéria abaixo).
Antônio da Cruz (Via facebook) Durante
todos estes séculos o Brasil deu as costas para a América Latina,
porque, em geral, os brasileiros se achavam "europeus ligeiramente
modificados". E os europeus, por sua vez, nunca deixaram de nos ver
como indesejáveis, exceto quando atendemos
os seus interesses mais imediatos. Esta ojeriza dos médicos
brasileiros aos cubanos, me parece, não ser somente por defesa do
mercado de trabalho, mas também por subestimar a capacidade dos
profissionais formados em universidades que os prepararam para cuidar
de gente com a medicina mais humanizada possível. Isto contraria o
mercado mais agressivo dos laboratórios multinacionais.
Mario Resende (Via facebook, acrescentado em 10 de julho de 2013)
---------------------------------------------------------------------------------
Zezito de Oliveira (Via facebook) Deixo
a dica para quem quiser pesquisar o tema. Sem esquecer de que é
necessário disponibilizar resultados por meios como este. As secretarias da educação e o MEC poderiam amenizar os efeitos citados acima com
programas interdisciplinares(*) de pós graduação
voltados aos profissionais que atuam na educação básica, abordando
questões relacionadas as necessidades ou dificuldades, bem como
valorizando o conhecimento acumulado por estes profisisonais. Penso que o
programa Mais Cultura nas Escolas com caracteristicas mais expandidas e
alcançando a pesquisa e reflexão sobre cultura e educação pode
contribuir, assim como a formação na área da pós-graduação sobre a aplicação da Lei Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008 "Altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de
2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, entre diversas
outras possibilidades.
-------------------------------------------------------------------------
Só descolonização da subjetividade trará mudança à América Latina, diz Walter Mignolo
Para o pesquisador argentino, a criação de Estados nacionais após os
movimentos de independência apenas abalou a ordem mundial
moderna/colonial, mas só a descolonização do ser e do saber levará a uma
mudança.
Fonte: Deutsche Welle AQUI
Fonte: Deutsche Welle AQUI
Como o senhor avalia o surgimento de uma nova esquerda pós-Guerra Fria no continente? Trata-se de uma ruptura ou é possível observá-la como um desenvolvimento político contínuo desde as independências?
Depois do fim da Guerra Fria, e talvez até o ano 2000, a esquerda boliviana foi, sem dúvida, a que mais contribuiu para a reorientação da esquerda moderno-colonial (que os europeus chamam apenas de esquerda moderna) e que se abriu para a compreensão histórica e as demandas indígenas propostas pelos escritos de José Carlos Mariátegui no Peru. Ela é, ao mesmo tempo, continuidade e câmbio com a esquerda nacionalista.
No entanto, a diferença colonial com projetos indígenas e afros persiste. A esquerda é um projeto "branco", para quem o fenômeno de classe é fundamental, enquanto que projetos indígenas e afros partem da raça como categoria fundamental.
Além disso, existe a questão do patriarcado, mais fácil de relacionar com a questão racial do que com a esquerda que mantém o fenômeno das classes como fundamento. Creio que, no futuro, os movimentos feministas, junto com projetos indígenas e afros, ganharão terreno sobre a primazia do marxismo e a Teologia da Libertação, as duas opções dissidentes que indígenas, afros e mulheres possuíam antes de iniciar seus próprios projetos.
Pode-se dizer que a estrutura colonial mantida desde a vigência do Colonialismo provoca a violação dos direitos humanos, a concentração de renda e a marginalização política de grupos inteiros da sociedade. Será possível superar essa ordem política e social sem uma nova revolução material?
Não se muda o mundo, mas sim as pessoas que fazem, controlam e desfazem o mundo. Uma "revolução" material sem a descolonização do conhecimento e da subjetividade só leva a mudanças de conteúdo, mas não dos termos na organização do mundo. Para isso, falta uma perspectiva que não seja nem o capitalismo nem o marxismo, mas descolonial. Ou seja, que as instituições (governo, economia, educação, saúde, alimentação) sejam postas a serviço da vida e não a vida a serviço das instituições.
Hoje a instituição que se procura salvar é o capitalismo. Nos dizem numa mesma notícia, com frequência, que a economia cresce, mas o desemprego também. A conexão que os jornais não fazem é que o que importa é a instituição, não a vida.
O projeto descolonial do qual faço parte inverte este processo: só a descolonização do ser e do saber levará a um câmbio(mudança) do horizonte econômico e político. Precisamos concretizar o "sonho descolonial", segundo o qual as instituições estão a serviço da vida, em vez de por as pessoas a serviço das instituições. Esta fórmula é a base da retórica moderna e da lógica do colonialismo (duas caras da mesma moeda), da qual precisamos nos desprender a fim de permitir mudanças radicais.
Revoluções materiais guiadas pela esquerda não nos levam muito longe, pois mantêm os termos do discurso, mudando apenas os conteúdos, com resultados desastrosos até então.
Deutsche Welle: Os
movimentos de independência na América Latina completam 200 anos. Mas
até que ponto é historicamente correto falar em independência? Seria
possível unificar os movimentos de independência na América Latina em
uma única corrente ou foram eles causados por fenômenos históricos
distintos?
Walter Mignolo: Seria equivocado limitar a análise dos "movimentos de independência" apenas à América Latina. Pois a "América Latina" não existia no momento em que ocorreu a assim chamada independência. O que houve foi o desmembramento dos vice-reinados espanhóis nas Índias Ocidentais sob o ponto de vista dos espanhóis e da população crioula que buscava a independência da Espanha.
Acho que é hora de deixar para trás o imaginário nacional e ver o que aconteceu como o primeiro abalo da ordem mundial moderna/colonial, quando anglo-crioulos formaram os Estados Unidos na América do Norte, afro-crioulos fundaram a República do Haiti e crioulos hispânicos fundaram diversas repúblicas de Argentina e Chile a Estados Unidos do México.
Como você avalia o caso do Brasil, único dos países latino-americanos a permanecer uma monarquia após a independência?
O Brasil não é necessariamente uma anomalia, mas uma consequência de conflitos imperiais, de diferenças internas entre impérios europeus. No final do século 18, Inglaterra, Alemanha e França assumiram a liderança global, enquanto Portugal e Espanha perderam poder. Portugal transferiu a administração monárquica para o Brasil a fim de escapar dos avanços da França imperial no sul da Europa, antes de colonizar a norte da África.
O Brasil é uma anomalia apenas se os Estados Unidos da América do Norte, o Haiti e as formações republicanas da América espanhola forem tomadas como modelo. Mas não se observarmos a totalidade da formação atlântica desde o século 16, incluindo tanto a formação das colônias quanto os conflitos entre as nações imperiais – Espanha, Portugal, Inglaterra e França.
Alemanha e Itália não são países atlânticos e sua expansão colonial é mínima em relação a eles. Curiosamente, Alemanha e Itália – países sem forte dominação colonial – e Espanha – país imperial que perdeu seu último domínio em 1898 – foram os três países que engendraram Hitler, Mussolini e Franco.
Historicamente, é correto dizer que os movimentos de independência na América Latina foram consequência da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa e da independência dos Estados Unidos?
Pode ser. Mas não acho isso relevante, a menos que ainda estejamos presos na análise moderna, que procura quem influenciou quem, em vez de observar as turbulências do sistema mundial moderno/colonial. Tais revoluções devem ser vistas como parte de um abalo que alterou a formação do mundo atlântico.
A Revolução Inglesa de 1647-1649 e a Revolução Gloriosa nem poderiam ter acontecido sem os alcances extraordinários que a Inglaterra obteve do tráfico negreiro e das plantações no Caribe. Daí se deu a formação de uma burguesia comercial e financeira em Londres, Liverpool e Manchester.
Agora, é preciso fazer uma distinção fundamental entre as revoluções modernas na Europa e as revoluções modernas/coloniais nas colônias. Antes de uma questão de influência, precisamos entender o campo sistêmico de forças. A diferença básica é que a revolução britânica e a francesa colocaram a burguesia no poder em substituição à monarquia.
Nas Américas, as revoluções não engendraram uma burguesia, mas uma elite colonial que assumiu o controle da economia, da autoridade, do conhecimento, do sexo e da sexualidade, dando continuidade à política imperial com relação aos afro-descendentes e à população indígena.
Enquanto, na Europa, a burguesia subiu ao poder, nas colônias, a elite colonial era basicamente uma elite de proprietários de terras e minas dependente dos efeitos crescentes da Revolução Industrial. Trata-se de uma elite ao serviço da burguesia européia, que fornecia recursos naturais para a Revolução Industrial.
O que definiu o desenvolvimento completamente diferente tomado pelos Estados Unidos após sua independência do destino dos países latino-americanos?
Os EUA, ao contrário dos vice-reinados hispano-americanos e da monarquia brasileira que ocupa quase todo o século 19, eram colônias da Inglaterra, país que estava assumindo a liderança imperial. Nas colônias inglesas que comporão os EUA, surgiu não só uma forte elite comercial mas também política, o que não foi o caso nas colônias inglesas no Caribe insular, por exemplo.
Os EUA se formaram sobre a base da elite política dos dissidentes crioulos, preconizados pelos founding fathers. Em contrapartida, as demais colônias inglesas eram controladas por plantation owners com interesses estritamente econômicos, e não políticos.
Já as independências nas colônias ibéricas (mais cedo na América hispânica continental e mais tardias no Brasil e na América hispânica caribenha, como em Cuba, Porto Rico e República Dominicana) são independências de países imperiais que, ao final do século 18, haviam perdido a segunda era moderna.
Como se vê, não se trata de influências de causas e efeitos, mas da complexidade dos vínculos histórico-estruturais na formação do sistema-mundo moderno-colonial em seus primeiros 300 anos de existência. Lembre-se que, enquanto isso ocorria na Europa e na América, a Holanda e a Inglaterra começavam já suas incursões na Índia e logo a França o faria no Sudeste Asiático e na África.
Além disso, nas colônias inglesas no chamado Novo Mundo, conquistadores chegaram ao sul e ao Caribe, e peregrinos ao norte. Estes últimos não buscavam conquistas, mas liberdade, eram dissidentes da monarquia inglesa que, até a metade do século 17, não se diferenciava muito da castelhana.
Os peregrinos trouxeram consigo a energia política que os levara a deixar a Inglaterra e os fará construir politicamente o Novo Mundo. Dessa linha provém a formação dos EUA. Na América Ibérica, nada disso aconteceu. Nenhum contingente da coroa castelhana emigrou da península e se refugiou na América.
Até que ponto a América Latina é realmente "latina"? O nome "América Latina" está condenado a desaparecer?
Se observar bem, cada vez menos se usa América Latina, dando preferência a América do Sul. Como expliquei em meu livro La idea de América Latina, a latinidade diz respeito apenas à população "branca" de ascendência europeia. Não vejo por que a população de ascendência africana teria que aceitar sua latinidade, em vez de sua africanidade. Da mesma forma, poderíamos falar em América Africana em vez de Latina. E de América Indígena, em vez de Africana ou Latina.
A latinidade foi um projeto imperial francês, quando o país, a partir do século 19, tentou recuperar a liderança dos países latinos do sul da Europa (Itália, Portugal, Espanha), a fim de enfrentar a liga anglo-saxônica da Inglaterra e da Alemanha. Esta divisão da Europa entre a Europa do Norte e do Sul, a anglo-saxônica e a latina, a protestante e a católica, se reproduz nas Américas: a América de Jefferson e a de Bolívar.
Pois esta história está chegando ao fim, o termo América Latina "incomoda" muita gente. Não só aqueles cujas memórias não são greco-romanas, e sim africanas ou indígenas, mas também os de ascendência europeia que consideram um atropelo impor a "latinidade" como um marco subcontinental. Tudo está mudando hoje, principalmente no Caribe insular (francês, inglês, holandês e espanhol) e continental. Aí a latinidade se reduz a um mínimo sustentável.
Além disso, é preciso perguntar quão "anglos" são os EUA, com 45 milhões de "latinos". Enquanto, na América do Sul e no Caribe, a latinidade se confunde com um termo hegemônico, nos EUA ela se converte em um desafio para a hegemonia da "anglicidade".
E por que os Estados Unidos reivindicam para si o nome América?
Durante o século 16 e todo o 17, a demografia das Américas era composta de habitantes nativos, europeus principalmente ibéricos e africanos escravizados. Durante quase todo o século 16, não se encontrava um inglês nem por casualidade. Walter Raleigh fundou uma colônia em Ronaoke em 1584, onde hoje é a Carolina do Norte. Os peregrinos chegaram à costa do que seria a Nova Inglaterra no começo do século 17.
Eles escaparam do absolutismo da coroa inglesa e, se não eram revolucionários, atuavam em dissensão. Isso não houve nem na Espanha nem em Portugal. Na Inglaterra, a situação política no século 17 foi acompanhada pelo crescimento econômico das plantações, principalmente no Caribe. Foi aí que a linha da teoria política de Maquiavel a Locke se afirmou na propriedade privada como critério fundamental do indivíduo soberano.
É isso que legitima Locke com relação à Revolução Gloriosa: seu tratado de governo reafirma os direitos da nascente burguesia, da soberania individual em relação à propriedade privada. Nada disso existiu na Península Ibérica, nem nas colônias luso-hispânicas.
Quem explicou o que quero dizer com clareza e erudição foi o venezuelano Enzo del Bufalo, num livro intitulado Americanismos y democracia (2002). Sua tese é de que o sujeito moderno, que já anunciava Cervantes na literatura e Descartes na filosofia, se concretizou politicamente na revolução colonial que gerou os Estados Unidos. Del Bufalo acerta ao distinguir entre americanismo e EUA. O americanismo é um projeto político que levou à formação do sujeito moderno e soberano, fundamentado na propriedade privada e que surge precisamente na América.
Esse projeto culminou com a formação do primeiro Estado moderno, os Estados Unidos da América do Norte (antes mesmo da Revolução Francesa). A historiografia europeia contou a história relegando a revolução americana a segundo plano. O sonho americano não são os Estados Unidos, mas o americanismo que os precede e funda. E esse mesmo Estado pode trair o sonho americano, como aconteceu no governo do segundo Bush. Uma das tarefas de Obama é precisamente restaurar esse americanismo.
Como disse Del Bufalo: "Os Estados Unidos da América são como a prática da América, que não é exatamente igual à América como projeto. Por sua vez, a América como utopia pode ser assumida por outros Estados sem nunca realmente se converter em uma prática, como ocorreu com os Estados latino-americanos".
O fim da Guerra Fria altera o significado e a predominância ideológica e econômica dos Estados Unidos na América Latina (e no mundo)?
Sim, muda muitas coisas, que eu resumiria em dois aspectos. Em primeiro lugar, a euforia e o senso de vitória da Europa Ocidental e dos EUA criaram as condições para os dois pilares da administração Bush: a invasão do Iraque e o colapso de Wall Street. Ou seja, o colapso do controle da autoridade e da economia pelos EUA.
Em consequência disso e do crescimento principalmente da China, mas também de outros países produtores de petróleo (Irã, Venezuela, Rússia), entramos em uma ordem policêntrica interconectada por um tipo de economia, a capitalista.
Quatro trajetórias dominarão o futuro global:
A primeira delas é o fim do ciclo de 500 anos de hegemonia e dominação ocidental, com a qual a administração Bush conseguiu acabar. A segunda é a deswesternização, que está sendo articulada no Leste e no Sudeste Asiático e consiste em aceitar a economia capitalista, mas disputar o controle da autoridade, do conhecimento, dos direitos humanos, das relações internacionais etc.
A terceira é a reorientação da esquerda, que tem várias caras: a esquerda europeia clássica, a esquerda europeia dos países do Sul, ligada ao Fórum Social Mundial, e a esquerda colonial, como é o caso da Bolívia, por exemplo.
E, por último, vem o descolonialismo, que começou durante a Guerra Fria com os movimentos de libertação nas colônias inglesas e francesas na África e na Ásia, mas que tem hoje outra cara, tanto epistêmica quanto política, na América do Sul e no Caribe.
Evo Morales é a primeira concretização desta tendência, enquanto os zapatistas foram o primeiro movimento social a aplicar o descolonialismo. Por mais que não tenham usado o termo, seus dizeres e ações eram descoloniais. Estas quatro tendências serão analisadas mais detalhadamente no meu próximo livro, The darker side of Western Modernity.
Como o senhor avalia o surgimento de uma nova esquerda pós-Guerra Fria no continente? Trata-se de uma ruptura ou é possível observá-la como um desenvolvimento político contínuo desde as independências?
Depois do fim da Guerra Fria, e talvez até o ano 2000, a esquerda boliviana foi, sem dúvida, a que mais contribuiu para a reorientação da esquerda moderno-colonial (que os europeus chamam apenas de esquerda moderna) e que se abriu para a compreensão histórica e as demandas indígenas propostas pelos escritos de José Carlos Mariátegui no Peru. Ela é, ao mesmo tempo, continuidade e câmbio com a esquerda nacionalista.
No entanto, a diferença colonial com projetos indígenas e afros persiste. A esquerda é um projeto "branco", para quem o fenômeno de classe é fundamental, enquanto que projetos indígenas e afros partem da raça como categoria fundamental.
Além disso, existe a questão do patriarcado, mais fácil de relacionar com a questão racial do que com a esquerda que mantém o fenômeno das classes como fundamento. Creio que, no futuro, os movimentos feministas, junto com projetos indígenas e afros, ganharão terreno sobre a primazia do marxismo e a Teologia da Libertação, as duas opções dissidentes que indígenas, afros e mulheres possuíam antes de iniciar seus próprios projetos.
Entrevista: Rodrigo Abdelmalack
Revisão: Roselaine Wandscheer
-------------------------------------------------------------------------
 Aula do curso de Literatura na Grécia Antiga promovido na Universidade das Quebradas (Foto: Divulgação)
Fonte: Site Globo Universidade
Aula do curso de Literatura na Grécia Antiga promovido na Universidade das Quebradas (Foto: Divulgação)
Fonte: Site Globo Universidade
Walter Mignolo: Seria equivocado limitar a análise dos "movimentos de independência" apenas à América Latina. Pois a "América Latina" não existia no momento em que ocorreu a assim chamada independência. O que houve foi o desmembramento dos vice-reinados espanhóis nas Índias Ocidentais sob o ponto de vista dos espanhóis e da população crioula que buscava a independência da Espanha.
Acho que é hora de deixar para trás o imaginário nacional e ver o que aconteceu como o primeiro abalo da ordem mundial moderna/colonial, quando anglo-crioulos formaram os Estados Unidos na América do Norte, afro-crioulos fundaram a República do Haiti e crioulos hispânicos fundaram diversas repúblicas de Argentina e Chile a Estados Unidos do México.
Como você avalia o caso do Brasil, único dos países latino-americanos a permanecer uma monarquia após a independência?
O Brasil não é necessariamente uma anomalia, mas uma consequência de conflitos imperiais, de diferenças internas entre impérios europeus. No final do século 18, Inglaterra, Alemanha e França assumiram a liderança global, enquanto Portugal e Espanha perderam poder. Portugal transferiu a administração monárquica para o Brasil a fim de escapar dos avanços da França imperial no sul da Europa, antes de colonizar a norte da África.
O Brasil é uma anomalia apenas se os Estados Unidos da América do Norte, o Haiti e as formações republicanas da América espanhola forem tomadas como modelo. Mas não se observarmos a totalidade da formação atlântica desde o século 16, incluindo tanto a formação das colônias quanto os conflitos entre as nações imperiais – Espanha, Portugal, Inglaterra e França.
Alemanha e Itália não são países atlânticos e sua expansão colonial é mínima em relação a eles. Curiosamente, Alemanha e Itália – países sem forte dominação colonial – e Espanha – país imperial que perdeu seu último domínio em 1898 – foram os três países que engendraram Hitler, Mussolini e Franco.
Historicamente, é correto dizer que os movimentos de independência na América Latina foram consequência da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa e da independência dos Estados Unidos?
Pode ser. Mas não acho isso relevante, a menos que ainda estejamos presos na análise moderna, que procura quem influenciou quem, em vez de observar as turbulências do sistema mundial moderno/colonial. Tais revoluções devem ser vistas como parte de um abalo que alterou a formação do mundo atlântico.
A Revolução Inglesa de 1647-1649 e a Revolução Gloriosa nem poderiam ter acontecido sem os alcances extraordinários que a Inglaterra obteve do tráfico negreiro e das plantações no Caribe. Daí se deu a formação de uma burguesia comercial e financeira em Londres, Liverpool e Manchester.
Agora, é preciso fazer uma distinção fundamental entre as revoluções modernas na Europa e as revoluções modernas/coloniais nas colônias. Antes de uma questão de influência, precisamos entender o campo sistêmico de forças. A diferença básica é que a revolução britânica e a francesa colocaram a burguesia no poder em substituição à monarquia.
Nas Américas, as revoluções não engendraram uma burguesia, mas uma elite colonial que assumiu o controle da economia, da autoridade, do conhecimento, do sexo e da sexualidade, dando continuidade à política imperial com relação aos afro-descendentes e à população indígena.
Enquanto, na Europa, a burguesia subiu ao poder, nas colônias, a elite colonial era basicamente uma elite de proprietários de terras e minas dependente dos efeitos crescentes da Revolução Industrial. Trata-se de uma elite ao serviço da burguesia européia, que fornecia recursos naturais para a Revolução Industrial.
O que definiu o desenvolvimento completamente diferente tomado pelos Estados Unidos após sua independência do destino dos países latino-americanos?
Os EUA, ao contrário dos vice-reinados hispano-americanos e da monarquia brasileira que ocupa quase todo o século 19, eram colônias da Inglaterra, país que estava assumindo a liderança imperial. Nas colônias inglesas que comporão os EUA, surgiu não só uma forte elite comercial mas também política, o que não foi o caso nas colônias inglesas no Caribe insular, por exemplo.
Os EUA se formaram sobre a base da elite política dos dissidentes crioulos, preconizados pelos founding fathers. Em contrapartida, as demais colônias inglesas eram controladas por plantation owners com interesses estritamente econômicos, e não políticos.
Já as independências nas colônias ibéricas (mais cedo na América hispânica continental e mais tardias no Brasil e na América hispânica caribenha, como em Cuba, Porto Rico e República Dominicana) são independências de países imperiais que, ao final do século 18, haviam perdido a segunda era moderna.
Como se vê, não se trata de influências de causas e efeitos, mas da complexidade dos vínculos histórico-estruturais na formação do sistema-mundo moderno-colonial em seus primeiros 300 anos de existência. Lembre-se que, enquanto isso ocorria na Europa e na América, a Holanda e a Inglaterra começavam já suas incursões na Índia e logo a França o faria no Sudeste Asiático e na África.
Além disso, nas colônias inglesas no chamado Novo Mundo, conquistadores chegaram ao sul e ao Caribe, e peregrinos ao norte. Estes últimos não buscavam conquistas, mas liberdade, eram dissidentes da monarquia inglesa que, até a metade do século 17, não se diferenciava muito da castelhana.
Os peregrinos trouxeram consigo a energia política que os levara a deixar a Inglaterra e os fará construir politicamente o Novo Mundo. Dessa linha provém a formação dos EUA. Na América Ibérica, nada disso aconteceu. Nenhum contingente da coroa castelhana emigrou da península e se refugiou na América.
Até que ponto a América Latina é realmente "latina"? O nome "América Latina" está condenado a desaparecer?
Se observar bem, cada vez menos se usa América Latina, dando preferência a América do Sul. Como expliquei em meu livro La idea de América Latina, a latinidade diz respeito apenas à população "branca" de ascendência europeia. Não vejo por que a população de ascendência africana teria que aceitar sua latinidade, em vez de sua africanidade. Da mesma forma, poderíamos falar em América Africana em vez de Latina. E de América Indígena, em vez de Africana ou Latina.
A latinidade foi um projeto imperial francês, quando o país, a partir do século 19, tentou recuperar a liderança dos países latinos do sul da Europa (Itália, Portugal, Espanha), a fim de enfrentar a liga anglo-saxônica da Inglaterra e da Alemanha. Esta divisão da Europa entre a Europa do Norte e do Sul, a anglo-saxônica e a latina, a protestante e a católica, se reproduz nas Américas: a América de Jefferson e a de Bolívar.
Pois esta história está chegando ao fim, o termo América Latina "incomoda" muita gente. Não só aqueles cujas memórias não são greco-romanas, e sim africanas ou indígenas, mas também os de ascendência europeia que consideram um atropelo impor a "latinidade" como um marco subcontinental. Tudo está mudando hoje, principalmente no Caribe insular (francês, inglês, holandês e espanhol) e continental. Aí a latinidade se reduz a um mínimo sustentável.
Além disso, é preciso perguntar quão "anglos" são os EUA, com 45 milhões de "latinos". Enquanto, na América do Sul e no Caribe, a latinidade se confunde com um termo hegemônico, nos EUA ela se converte em um desafio para a hegemonia da "anglicidade".
E por que os Estados Unidos reivindicam para si o nome América?
Durante o século 16 e todo o 17, a demografia das Américas era composta de habitantes nativos, europeus principalmente ibéricos e africanos escravizados. Durante quase todo o século 16, não se encontrava um inglês nem por casualidade. Walter Raleigh fundou uma colônia em Ronaoke em 1584, onde hoje é a Carolina do Norte. Os peregrinos chegaram à costa do que seria a Nova Inglaterra no começo do século 17.
Eles escaparam do absolutismo da coroa inglesa e, se não eram revolucionários, atuavam em dissensão. Isso não houve nem na Espanha nem em Portugal. Na Inglaterra, a situação política no século 17 foi acompanhada pelo crescimento econômico das plantações, principalmente no Caribe. Foi aí que a linha da teoria política de Maquiavel a Locke se afirmou na propriedade privada como critério fundamental do indivíduo soberano.
É isso que legitima Locke com relação à Revolução Gloriosa: seu tratado de governo reafirma os direitos da nascente burguesia, da soberania individual em relação à propriedade privada. Nada disso existiu na Península Ibérica, nem nas colônias luso-hispânicas.
Quem explicou o que quero dizer com clareza e erudição foi o venezuelano Enzo del Bufalo, num livro intitulado Americanismos y democracia (2002). Sua tese é de que o sujeito moderno, que já anunciava Cervantes na literatura e Descartes na filosofia, se concretizou politicamente na revolução colonial que gerou os Estados Unidos. Del Bufalo acerta ao distinguir entre americanismo e EUA. O americanismo é um projeto político que levou à formação do sujeito moderno e soberano, fundamentado na propriedade privada e que surge precisamente na América.
Esse projeto culminou com a formação do primeiro Estado moderno, os Estados Unidos da América do Norte (antes mesmo da Revolução Francesa). A historiografia europeia contou a história relegando a revolução americana a segundo plano. O sonho americano não são os Estados Unidos, mas o americanismo que os precede e funda. E esse mesmo Estado pode trair o sonho americano, como aconteceu no governo do segundo Bush. Uma das tarefas de Obama é precisamente restaurar esse americanismo.
Como disse Del Bufalo: "Os Estados Unidos da América são como a prática da América, que não é exatamente igual à América como projeto. Por sua vez, a América como utopia pode ser assumida por outros Estados sem nunca realmente se converter em uma prática, como ocorreu com os Estados latino-americanos".
O fim da Guerra Fria altera o significado e a predominância ideológica e econômica dos Estados Unidos na América Latina (e no mundo)?
Sim, muda muitas coisas, que eu resumiria em dois aspectos. Em primeiro lugar, a euforia e o senso de vitória da Europa Ocidental e dos EUA criaram as condições para os dois pilares da administração Bush: a invasão do Iraque e o colapso de Wall Street. Ou seja, o colapso do controle da autoridade e da economia pelos EUA.
Em consequência disso e do crescimento principalmente da China, mas também de outros países produtores de petróleo (Irã, Venezuela, Rússia), entramos em uma ordem policêntrica interconectada por um tipo de economia, a capitalista.
Quatro trajetórias dominarão o futuro global:
A primeira delas é o fim do ciclo de 500 anos de hegemonia e dominação ocidental, com a qual a administração Bush conseguiu acabar. A segunda é a deswesternização, que está sendo articulada no Leste e no Sudeste Asiático e consiste em aceitar a economia capitalista, mas disputar o controle da autoridade, do conhecimento, dos direitos humanos, das relações internacionais etc.
A terceira é a reorientação da esquerda, que tem várias caras: a esquerda europeia clássica, a esquerda europeia dos países do Sul, ligada ao Fórum Social Mundial, e a esquerda colonial, como é o caso da Bolívia, por exemplo.
E, por último, vem o descolonialismo, que começou durante a Guerra Fria com os movimentos de libertação nas colônias inglesas e francesas na África e na Ásia, mas que tem hoje outra cara, tanto epistêmica quanto política, na América do Sul e no Caribe.
Evo Morales é a primeira concretização desta tendência, enquanto os zapatistas foram o primeiro movimento social a aplicar o descolonialismo. Por mais que não tenham usado o termo, seus dizeres e ações eram descoloniais. Estas quatro tendências serão analisadas mais detalhadamente no meu próximo livro, The darker side of Western Modernity.
Como o senhor avalia o surgimento de uma nova esquerda pós-Guerra Fria no continente? Trata-se de uma ruptura ou é possível observá-la como um desenvolvimento político contínuo desde as independências?
Depois do fim da Guerra Fria, e talvez até o ano 2000, a esquerda boliviana foi, sem dúvida, a que mais contribuiu para a reorientação da esquerda moderno-colonial (que os europeus chamam apenas de esquerda moderna) e que se abriu para a compreensão histórica e as demandas indígenas propostas pelos escritos de José Carlos Mariátegui no Peru. Ela é, ao mesmo tempo, continuidade e câmbio com a esquerda nacionalista.
No entanto, a diferença colonial com projetos indígenas e afros persiste. A esquerda é um projeto "branco", para quem o fenômeno de classe é fundamental, enquanto que projetos indígenas e afros partem da raça como categoria fundamental.
Além disso, existe a questão do patriarcado, mais fácil de relacionar com a questão racial do que com a esquerda que mantém o fenômeno das classes como fundamento. Creio que, no futuro, os movimentos feministas, junto com projetos indígenas e afros, ganharão terreno sobre a primazia do marxismo e a Teologia da Libertação, as duas opções dissidentes que indígenas, afros e mulheres possuíam antes de iniciar seus próprios projetos.
Entrevista: Rodrigo Abdelmalack
Revisão: Roselaine Wandscheer
-------------------------------------------------------------------------
UFBA oferece curso de bacharelado interdisciplinar AQUI
Produção Cultural na Escola. AQUI
sábado, 10 de novembro de 2012
Universidade das Quebradas propõe o encontro de culturas da periferia
Curso desenvolvido pela UFRJ se tornou referência no meio artístico
 Aula do curso de Literatura na Grécia Antiga promovido na Universidade das Quebradas (Foto: Divulgação)
Aula do curso de Literatura na Grécia Antiga promovido na Universidade das Quebradas (Foto: Divulgação)
A fórmula não poderia ser melhor. De um lado a universidade, que entra
com o saber “formalizado”, de outro os alunos, que trazem para a sala de
aula suas sensibilidades e vivências do mundo artístico. Esse modelo
vem acontecendo na Universidade das Quebradas,
projeto de extensão criado em 2010 e vinculado ao Programa Avançado de
Cultura Contemporânea (PACC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O objetivo da iniciativa é o de promover a aproximação entre a
universidade e agitadores culturais da periferia da cidade do Rio de
Janeiro. São artistas e produtores oriundos dos mais diferentes
"territórios" cariocas, com diferentes experiências e atuações
culturais.
A ideia da Universidade das Quebradas nasceu a partir da tese de
doutorado sobre rap, feita na UFRJ pela pesquisadora Numa Ciro,
atualmente coordenadora adjunta do curso, com orientação de Heloísa
Buarque de Holanda, que também atua no projeto. A proposta inicial da
tese era a de reunir pessoas ligadas à cultura na periferia do Rio de
Janeiro para trocarem informações. Com o projeto de extensão criado e o
curso formatado, a primeira turma começou, em 2010, com 40 alunos, que
são chamados de “quebradeiros”. Em 2011, esse número subiu para 50,
sendo que a nova turma, que iniciou em agosto de 2012, está com 70
alunos, que foram selecionados entre 300 candidatos. Mesmo com o curso
concluído, muitos ex-alunos retornam para assistir às aulas, reforçando o
lema da universidade de “uma vez quebradeiro, sempre quebradeiro”.
“A Universidade das Quebradas é uma praça de trocas. Todos nós saímos
daqui com novos conhecimentos a cada encontro. Temos quebradeiros de
muitos bairros da cidade e arredores, desde Santa Cruz a São Gonçalo.
Eles trabalham em projetos sociais, artísticos e educacionais em seus
bairros, são multiplicadores”, explica Beá Meira, uma das
desenvolvedoras do projeto. O curso, que tem duração de um ano (180
horas), é desenvolvido em cinco áreas da produção cultural, sendo elas:
literatura, artes visuais, teatro, dança e música, e aborda a produção
artística e cultural em momentos específicos, incluindo fases como o
romantismo, modernismo e contemporaneidade.
As aulas acontecem uma vez por semana no Colégio Brasileiro de Altos
Estudos, antiga Casa do Estudante, no Flamengo. Uma vez por mês, são
realizados também os “territórios das quebradas”, encontros em que os
quebradeiros mostram suas reflexões sobre o território onde vivem. Os
alunos apresentam material próprio sobre os mais diversos temas. Já
houve território em que os alunos falaram sobre vestuário feminino no
funk, por exemplo, ou sobre grafite, no qual foram apresentados os
termos mais comuns utilizados entre os grafiteiros e o que eles
significam.
“O território das quebradas consiste em uma mesa na qual os
quebradeiros, previamente inscritos, falam durante 20 minutos. Eles
apresentam seus pontos de vista sobre diversos temas da cultura da
periferia. Em seguida, rolam os debates. À tarde, o encontro é encerrado
com a apresentação de um sarau dos palestrantes”, conta Beá Meira.
O curso aborda disciplinas como Filosofia, Cultura Africana, Arte e
Arquitetura na Antiguidade, Epopeia Clássica, Mitos Gregos e Africanos,
Mitologia Yoruba, Romantismo na Arte e na Literatura, Literatura Negra e
de Cordel, entra outras. Já na segunda parte do curso, são ministradas
aulas de cinema, música, dança, teatro e de elaboração de projeto
culturais, além de oficinas de linguagem e expressão ministrada em
parceria com a Fundação Roberto Marinho.
Antonio Cândido indica 10 livros para conhecer o Brasil Fonte - blog da boitempo AQUI
Quando nos
pedem para indicar um número muito limitado de livros importantes para
conhecer o Brasil, oscilamos entre dois extremos possíveis: de um lado,
tentar uma lista dos melhores, os que no consenso geral se situam acima
dos demais; de outro lado, indicar os que nos agradam e, por isso,
dependem sobretudo do nosso arbítrio e das nossas limitações. Ficarei
mais perto da segunda hipótese.
Como
sabemos, o efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere à
simples informação, depende de muita coisa além do valor que ele possa
ter. Depende do momento da vida em que o lemos, do grau do nosso
conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Para quem pouco leu e
pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte reveladora. Para
quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado. Além
disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo autor
(e portanto aproveitá-lo ao máximo) e não com outro, independente da
valia de ambos.
Por isso, é
sempre complicado propor listas reduzidas de leituras fundamentais. Na
elaboração da que vou sugerir (a pedido) adotei um critério simples: já
que é impossível enumerar todos os livros importantes no caso, e já que
as avaliações variam muito, indicarei alguns que abordam pontos a meu
ver fundamentais, segundo o meu limitado ângulo de visão. Imagino que
esses pontos fundamentais correspondem à curiosidade de um jovem que
pretende adquirir boa informação a fim de poder fazer reflexões
pertinentes, mas sabendo que se trata de amostra e que, portanto, muita
coisa boa fica de fora.
São
fundamentais tópicos como os seguintes: os europeus que fundaram o
Brasil; os povos que encontraram aqui; os escravos importados sobre os
quais recaiu o peso maior do trabalho; o tipo de sociedade que se
organizou nos séculos de formação; a natureza da independência que nos
separou da metrópole; o funcionamento do regime estabelecido pela
independência; o isolamento de muitas populações, geralmente mestiças; o
funcionamento da oligarquia republicana; a natureza da burguesia que
domina o país. É claro que estes tópicos não esgotam a matéria, e basta
enunciar um deles para ver surgirem ao seu lado muitos outros. Mas penso
que, tomados no conjunto, servem para dar uma ideia básica.
Entre
parênteses: desobedeço o limite de dez obras que me foi proposto para
incluir de contrabando mais uma, porque acho indispensável uma
introdução geral, que não se concentre em nenhum dos tópicos enumerados
acima, mas abranja em síntese todos eles, ou quase. E como introdução
geral não vejo nenhum melhor do que O povo brasileiro (1995),
de Darcy Ribeiro, livro trepidante, cheio de ideias originais, que
esclarece num estilo movimentado e atraente o objetivo expresso no
subtítulo: “A formação e o sentido do Brasil”.
Quanto à caracterização do português, parece-me adequado o clássico Raízes do Brasil
(1936), de Sérgio Buarque de Holanda, análise inspirada e profunda do
que se poderia chamar a natureza do brasileiro e da sociedade brasileira
a partir da herança portuguesa, indo desde o traçado das cidades e a
atitude em face do trabalho até a organização política e o modo de ser.
Nele, temos um estudo de transfusão social e cultural, mostrando como o
colonizador esteve presente em nosso destino e não esquecendo a
transformação que fez do Brasil contemporâneo uma realidade não mais
luso-brasileira, mas, como diz ele, “americana”.
Em relação
às populações autóctones, ponho de lado qualquer clássico para indicar
uma obra recente que me parece exemplar como concepção e execução: História dos índios do Brasil
(1992), organizada por Manuela Carneiro da Cunha e redigida por
numerosos especialistas, que nos iniciam no passado remoto por meio da
arqueologia, discriminam os grupos linguísticos, mostram o índio ao
longo da sua história e em nossos dias, resultando uma introdução sólida
e abrangente.
Seria bom se
houvesse obra semelhante sobre o negro, e espero que ela apareça quanto
antes. Os estudos específicos sobre ele começaram pela etnografia e o
folclore, o que é importante, mas limitado. Surgiram depois estudos de
valor sobre a escravidão e seus vários aspectos, e só mais recentemente
se vem destacando algo essencial: o estudo do negro como agente ativo do
processo histórico, inclusive do ângulo da resistência e da rebeldia,
ignorado quase sempre pela historiografia tradicional. Nesse tópico
resisto à tentação de indicar o clássico O abolicionismo
(1883), de Joaquim Nabuco, e deixo de lado alguns estudos
contemporâneos, para ficar com a síntese penetrante e clara de Kátia de
Queirós Mattoso, Ser escravo no Brasil (1982), publicado
originariamente em francês. Feito para público estrangeiro, é uma
excelente visão geral desprovida de aparato erudito, que começa pela
raiz africana, passa à escravização e ao tráfico para terminar pelas
reações do escravo, desde as tentativas de alforria até a fuga e a
rebelião. Naturalmente valeria a pena acrescentar estudos mais
especializados, como A escravidão africana no Brasil (1949), de Maurício Goulart ou A integração do negro na sociedade de classes
(1964), de Florestan Fernandes, que estuda em profundidade a exclusão
social e econômica do antigo escravo depois da Abolição, o que constitui
um dos maiores dramas da história brasileira e um fator permanente de
desequilíbrio em nossa sociedade.
Esses três
elementos formadores (português, índio, negro) aparecem
inter-relacionados em obras que abordam o tópico seguinte, isto é, quais
foram as características da sociedade que eles constituíram no Brasil,
sob a liderança absoluta do português. A primeira que indicarei é Casa grande e senzala
(1933), de Gilberto Freyre. O tempo passou (quase setenta anos), as
críticas se acumularam, as pesquisas se renovaram e este livro continua
vivíssimo, com os seus golpes de gênio e a sua escrita admirável –
livre, sem vínculos acadêmicos, inspirada como a de um romance de
alto voo. Verdadeiro acontecimento na história da cultura brasileira,
ele veio revolucionar a visão predominante, completando a noção de raça
(que vinha norteando até então os estudos sobre a nossa sociedade) pela
de cultura; mostrando o papel do negro no tecido mais íntimo da vida
familiar e do caráter do brasileiro; dissecando o relacionamento das
três raças e dando ao fato da mestiçagem uma significação inédita. Cheio
de pontos de vista originais, sugeriu entre outras coisas que o Brasil é
uma espécie de prefiguração do mundo futuro, que será marcado pela
fusão inevitável de raças e culturas.
Sobre o mesmo tópico (a sociedade colonial fundadora) é preciso ler também Formação do Brasil contemporâneo, Colônia
(1942), de Caio Prado Júnior, que focaliza a realidade de um ângulo
mais econômico do que cultural. É admirável, neste outro clássico, o
estudo da expansão demográfica que foi configurando o perfil do
território – estudo feito com percepção de geógrafo, que serve de base
física para a análise das atividades econômicas (regidas pelo
fornecimento de gêneros requeridos pela Europa), sobre as quais Caio
Prado Júnior engasta a organização política e social, com articulação
muito coerente, que privilegia a dimensão material.
Caracterizada
a sociedade colonial, o tema imediato é a independência política, que
leva a pensar em dois livros de Oliveira Lima: D. João VI no Brasil (1909) e O movimento da Independência
(1922), sendo que o primeiro é das maiores obras da nossa
historiografia. No entanto, prefiro indicar um outro, aparentemente fora
do assunto: A América Latina, Males de origem (1905), de
Manuel Bonfim. Nele a independência é de fato o eixo, porque, depois de
analisar a brutalidade das classes dominantes, parasitas do trabalho
escravo, mostra como elas promoveram a separação política para conservar
as coisas como eram e prolongar o seu domínio. Daí (é a maior
contribuição do livro) decorre o conservadorismo, marca da política e do
pensamento brasileiro, que se multiplica insidiosamente de várias
formas e impede a marcha da justiça social. Manuel Bonfim não tinha a
envergadura de Oliveira Lima, monarquista e conservador, mas tinha
pendores socialistas que lhe permitiram desmascarar o panorama da
desigualdade e da opressão no Brasil (e em toda a América Latina).
Instalada a monarquia pelos conservadores, desdobra-se o período imperial, que faz pensar no grande clássico de Joaquim Nabuco: Um estadista do Império
(1897). No entanto, este livro gira demais em torno de um só
personagem, o pai do autor, de maneira que prefiro indicar outro que tem
inclusive a vantagem de traçar o caminho que levou à mudança de regime:
Do Império à República (1972), de Sérgio Buarque de Holanda, volume que faz parte da História geral da civilização brasileira,
dirigida por ele. Abrangendo a fase 1868-1889, expõe o funcionamento da
administração e da vida política, com os dilemas do poder e a natureza
peculiar do parlamentarismo brasileiro, regido pela figura-chave de
Pedro II.
A seguir,
abre-se ante o leitor o período republicano, que tem sido estudado sob
diversos aspectos, tornando mais difícil a escolha restrita. Mas penso
que três livros são importantes no caso, inclusive como ponto de partida
para alargar as leituras.
Um tópico de
grande relevo é o isolamento geográfico e cultural que segregava boa
parte das populações sertanejas, separando-as da civilização urbana ao
ponto de se poder falar em “dois Brasis”, quase alheios um ao outro. As
consequências podiam ser dramáticas, traduzindo-se em exclusão
econômico-social, com agravamento da miséria, podendo gerar a violência e
o conflito. O estudo dessa situação lamentável foi feito a propósito do
extermínio do arraial de Canudos por Euclides da Cunha n’Os sertões
(1902), livro que se impôs desde a publicação e revelou ao homem das
cidades um Brasil desconhecido, que Euclides tornou presente à
consciência do leitor graças à ênfase do seu estilo e à imaginação
ardente com que acentuou os traços da realidade, lendo-a, por assim
dizer, na craveira da tragédia. Misturando observação e indignação
social, ele deu um exemplo duradouro de estudo que não evita as
avaliações morais e abre caminho para as reivindicações políticas.
Da
Proclamação da República até 1930 nas zonas adiantadas, e praticamente
até hoje em algumas mais distantes, reinou a oligarquia dos
proprietários rurais, assentada sobre a manipulação da política
municipal de acordo com as diretrizes de um governo feito para atender
aos seus interesses. A velha hipertrofia da ordem privada, de origem
colonial, pesava sobre a esfera do interesse coletivo, definindo uma
sociedade de privilégio e favor que tinha expressão nítida na atuação
dos chefes políticos locais, os “coronéis”. Um livro que se recomenda
por estudar esse estado de coisas (inclusive analisando o lado positivo
da atuação dos líderes municipais, à luz do que era possível no estado
do país) é Coronelismo, enxada e voto (1949), de Vitor Nunes
Leal, análise e interpretação muito segura dos mecanismos políticos da
chamada República Velha (1889-1930).
O último
tópico é decisivo para nós, hoje em dia, porque se refere à modernização
do Brasil, mediante a transferência de liderança da oligarquia de base
rural para a burguesia de base industrial, o que corresponde à
industrialização e tem como eixo a Revolução de 1930. A partir desta
viu-se o operariado assumir a iniciativa política em ritmo cada vez mais
intenso (embora tutelado em grande parte pelo governo) e o empresário
vir a primeiro plano, mas de modo especial, porque a sua ação se
misturou à mentalidade e às práticas da oligarquia. A bibliografia a
respeito é vasta e engloba o problema do populismo como mecanismo de
ajustamento entre arcaísmo e modernidade. Mas já que é preciso fazer uma
escolha, opto pelo livro fundamental de Florestan Fernandes, A revolução burguesa no Brasil
(1974). É uma obra de escrita densa e raciocínio cerrado, construída
sobre o cruzamento da dimensão histórica com os tipos sociais, para
caracterizar uma nova modalidade de liderança econômica e política.
Chegando
aqui, verifico que essas sugestões sofrem a limitação das minhas
limitações. E verifico, sobretudo, a ausência grave de um tópico: o
imigrante. De fato, dei atenção aos três elementos formadores
(português, índio, negro), mas não mencionei esse grande elemento
transformador, responsável em grande parte pela inflexão que Sérgio
Buarque de Holanda denominou “americana” da nossa história
contemporânea. Mas não conheço obra geral sobre o assunto, se é que
existe, e não as há sobre todos os contingentes. Seria possível
mencionar, quanto a dois deles, A aculturação dos alemães no Brasil (1946), de Emílio Willems; Italianos no Brasil (1959), de Franco Cenni, ou Do outro lado do Atlântico (1989), de Ângelo Trento – mas isso ultrapassaria o limite que me foi dado.
No fim de
tudo, fica o remorso, não apenas por ter excluído entre os autores do
passado Oliveira Viana, Alcântara Machado, Fernando de Azevedo, Nestor
Duarte e outros, mas também por não ter podido mencionar gente mais
nova, como Raimundo Faoro, Celso Furtado, Fernando Novais, José Murilo
de Carvalho, Evaldo Cabral de Melo etc. etc. etc. etc.
* Artigo publicado na edição 41 da revista Teoria e Debate – em 30/09/2000
Antonio Candido é sociólogo, crítico literário e ensaísta.

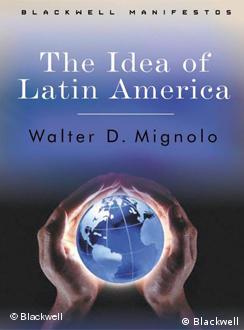

Nenhum comentário:
Postar um comentário