A percepção de uma cidade abstrata, em ofícios, despachos, processos… E a importância da intersecção entre cultura e cidadania, e da participação popular.
Por Marilena Chaui, em A Terra é Redonda e em Outras Palavras
Pretendo tecer alguns comentários a partir da fala muito generosa de Amália Pie Andery e da conclusão a que ela chega sobre nossa insatisfação e nosso pessimismo, após o período em que assumimos a Secretaria Municipal de Cultura (1989-1992). Eu quero recordar certos acontecimentos não apenas restritos àquela Secretaria, mas relativos ao governo, em geral, da cidade de São Paulo. E, isto, porque tenho um pouco de dúvida se os intelectuais no governo de Luiza Erundina, de modo geral e no meu caso em particular, “terminamos um ciclo”, como generosamente colocou o Paulo Arantes.
Talvez seja para não fazer uma crítica violenta que prefere nos colocar numa tradição ilustrada e dizer: “Vocês terminam uma tradição ilustre”. Não sei se o fato de o Paulo Arantes nos colocar como término de uma ilustre tradição, empenhada e liberal, corresponde ao que aconteceu, embora eu pense que ele o faça por generosidade. Possivelmente corresponda ao plano da imagem produzida e que se constituiu numa das grandes perguntas que nós nos colocamos o tempo todo – a da imagem produzida pelo governo e a da nossa experiência, enquanto tal.
Antes de retomar esse ponto que a Amália coloca, e que é decisivo, seria importante perguntar: “Como é que nós pudemos imaginar que algumas mudanças teriam ocorrido na cidade de modo a garantir a preservação, pela própria máquina da prefeitura, de ações e políticas iniciadas por nós?”. E, na sequência: “Como analisar a confiança que muitos dos secretários, e mesmo a Luiza Erundina, tinham de que a população defenderia os direitos conquistados?”.
Isso não aconteceu! Quando a Amália fala da nossa insatisfação, refere-se ao fato de que estávamos numa Secretaria que era completamente alheia às preocupações do PT. Quer dizer, não passava pela cabeça do PT, seja a dos dirigentes, seja a dos militantes da base que se pudesse falar em questão cultural ou numa política cultural. Isto era considerado bobagem e, de modo geral, o que sempre se esperou de nós é que fizéssemos shows. A cultura era “palco, som e luz”, ou melhor, nem era isso, era “emprestar o palco, o som e a luz” (risos).
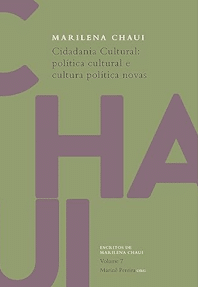
E, possivelmente porque tínhamos uma posição extremamente marginal dentro do Partido dos Trabalhadores – não no governo da Luiza Erundina, mas no PT e também na percepção e compreensão dos outros secretários –, é que para nós, talvez, fosse mais evidente que não ia sobrar nada.
Essa consciência se tornava cada vez mais clara pelo seguinte: todas as outras secretarias estavam ligadas a fortíssimos movimentos sociais que, a partir do plano externo, lhes conferiam apoio e, no plano interno da prefeitura, garantiam que os petistas fariam o mesmo, ou seja, havia um apoio generalizado às políticas que haviam sido conquistadas. Ao menos minha interpretação é essa. Ora, como do lado da cultura não havia nada disso, a imagem da permanência não nos foi atribuída. Por isso a nossa dor e insatisfação se faziam mais fortes do que para os outros.
A produção de um texto que seja uma análise, uma interpretação e uma avaliação, senão do governo de Luiza Erundina, pelo menos da Secretaria Municipal de Cultura, tem sido cobrado da equipe que trabalhou comigo e da minha pessoa, com certa frequência. E o que eu tenho explicado às pessoas é que ainda não tenho condição de fazer isto. Ainda sou movida por um terror muito profundo, ao lembrar o que foi a experiência, e de uma cólera absolutamente gigantesca, por ter entregue a Secretaria de Cultura para o Paulo Maluf. Poderia ter entregue para qualquer outro, para o PSDB, PMDB, PSB, PFL… Mas entregar para o Maluf é mais do que a alma pode suportar! E, no meu caso, entregar para um malufista de última hora, ex-comunista, ex-presidente da Anistia Internacional, pessoa com quem eu estive mundo afora lutando contra a violência e a questão dos direitos. Entreguei-lhe a Secretaria de Cultura depois de ele ter escrito um artigo em que afirmava: “Cansei de ser perdedor, agora o Muro caiu e eu estou junto com os vitoriosos”. Portanto, não tenho essa condição de escrever nada, nada, nada! Quem sabe um dia eu escreva…
Mas eu gostaria de relatar alguns casos. E vou começar com um que não tem nada a ver com a Secretaria de Cultura, porque penso que fornece alguma medida da nossa experiência. Na noite em que deslizou o morro da favela do Morumbi, em que, além dos feridos, houve dez crianças mortas, soterradas, fomos todos chamados pela Luiza Erundina para ir à região.
A história, vocês sabem, tem a ver com uma construção gigantesca de uma empreiteira ligada ao malufismo. Ela foi proibida de prosseguir o trabalho do aterro, pois, na verdade, estava empurrando a terra para a região onde ficava a favela. A empreiteira havia movido uma ação contra a prefeitura (alegava que tinha o direito de fazer isso na medida em que a favela era uma invasão de terreno) e não interrompeu seus trabalhos. O que se negociou, então, foi: “Aguardem, pelo menos, até que nós retiremos a população favelada. Vamos encontrar outro lugar para essa população e depois vocês prosseguem; caso contrário, aqui vai acontecer uma catástrofe”.
Bom, a empreiteira não quis saber, não quis ouvir, continuou empurrando a terra. A população resistiu à ideia de sair cada um para um lado; com muita justiça, pois numa saída de emergência acaba-se colocando cada um num lugar diferente. Como diziam eles, na época: “Nós vamos sair organizadamente”. E ficaram… E o morro desceu.
Começo por relatar – pois acho que isto mostra que o lugar é outro – que, quando chegamos ao local, já estavam lá a Luiza Erundina e Aldaíza Sposati e que, logo depois, chegou a Erminia Maricato e cheguei eu, no instante em que se noticiava que dez crianças estavam soterradas. Quando cheguei, Luiza Erundina estava recebendo a notícia das crianças mortas. Era aquela chuva, aquele barro… A Erundina sentou no chão, no barro, e as mães vieram vindo e sentaram-se ali; elas se abraçaram e choraram juntas. Choraram, choraram, não podiam parar de chorar. E nós fomos chegando e sentando no barro, na chuva, todos chorando.
Eu penso que esse choro significa várias coisas. Em primeiro lugar, nós choramos a nossa impotência. O fato de se ter nas mãos o governo, o Poder Executivo da cidade de São Paulo, não quer dizer nada. Temos uma burguesia altamente poderosa, suficientemente poderosa para passar por cima do poder que o Executivo tem. Assim, o primeiro sentido da lágrima era a impotência. Isto é, nós não conseguimos impedir que aquela burguesia jogasse aquela terra e matasse aquelas crianças.
O segundo ponto refere-se ao fato de que Erundina chorava a tal ponto que as mães passaram a consolá-la. E o que ela dizia para nós era: “É a minha gente, é a minha gente; eu deixei acontecer isto com a minha gente”. Era muito claro para ela, como prefeita, que aquilo não podia acontecer “com a gente dela”. Ou seja, ocorre uma fala na qual a linguagem de classe é imediata, a percepção imediata é a da situação de classe.
Outro ponto que acho muito importante neste acontecimento é o fato de que, por um certo momento, não tínhamos as coordenadas nem de espaço e nem de tempo. Era uma coletividade totalmente atravessada pela espoliação, pela dor, pela crueldade, pela impotência, pela impossibilidade da mudança. Penso que é um episódio muito importante porque, de alguma maneira, marca o lugar em que este governo pretendia estar, com quem e como ele pretendia estar… E mostra por que ele perdeu no dia em que tomou posse. Nós perdemos no ato mesmo de tomar posse.
Eu poderia multiplicar estes casos; contar a vocês dez, doze casos por dia, 365 dias em quatro anos. De hora em hora tratava-se da impossibilidade de um governo com pretensões de esquerda em São Paulo. Com o Judiciário, tal como ele é; com o Legislativo, tal como ele é; com a mídia, tal como ela é, e com a classe média e a classe dominante, tais como elas são em São Paulo.
Essa foi uma experiência que vários dos meus colegas de governo não tiveram. A experiência deles era de que coisas importantes e novas aconteciam e provocavam uma mudança na fisionomia da cidade. Essa não foi, em instante nenhum, a minha experiência. E acho que, quando a Amália narra o modo como eu fazia a garrafa de água se transformar na mesa inteira, na expectativa de que um projeto que viesse a nós – ao qual pudéssemos dar condições – se ampliasse e agregasse muito mais gente, era o mínimo que se podia fazer.
Mas, eu nunca tive a experiência ou o sentimento de uma mudança, da implantação de alguma coisa nova na cidade. Isto me vinha de uma maneira muito clara sobretudo nos instantes, por exemplo, em que (ao contrário dos outros secretários, que foram fuzilados pela mídia) eu fui poupada pela mídia e cheguei mesmo a tê-la a favor. O que era fantástico era a maneira como o a favor aparecia. Quando o a favor público, mediado pela mídia aparecia, ele era a favor de tudo o que nós éramos contra. O elogio vinha para aquilo que era a “rabeira” do trabalho, para aquilo que era a sombra indesejável do trabalho, para aquilo que era o elemento irrelevante do que estávamos fazendo.
O que era fantástico era ver como alguma coisa que tinha a pretensão de ser a negação do que estava instituído era imediatamente incorporado pelo instituído, que elogiava aquilo que no trabalho ou era insignificante ou era resíduo, ou ainda aquilo que a gente não queria, mas tinha que ter aguentado. Então, tudo o que não era o nosso trabalho, era objeto de reconhecimento por parte da mídia.
É por causa disso que eu tenho um pouco de dificuldade de pensar que “encerramos um ciclo”. Acho que tivemos a ilusão de que seria iniciado um ciclo, que não foi possível iniciar. E por que sou eu a dizer isso? Vejam que quando, no caso da Secretaria, propôs-se a Cidadania Cultural, a proposta foi fruto do acaso e do acidente. Quando Luiza Erundina me convidou para a Secretaria, eu disse: “Não quero, não posso e não devo!”. E expliquei por que não queria, não podia e não devia. Ela foi mais persuasiva do que eu. E o que aconteceu foi o que se segue. O mundo concreto para mim sempre tinha sido o texto. Lá onde alguma coisa vem a mim através de um texto, torna-se concretíssimo. O mundo mesmo é muito abstrato. Então, o que aconteceu? Nós fomos jogados no mundo. No mundo confuso, complicado, contraditório e adverso; profundamente adverso. Era preciso, de alguma maneira, domar essa imensa abstração. E a maneira que encontrei para domar o real, que para mim era abstrato, foi produzir um texto que eu achava que era concreto: o texto da Cidadania cultural.
Ora, eu penso que o trajeto que percorremos na Secretaria de Cultura foi tal que, no final do percurso, ríamos sobre o que tínhamos feito no começo. A necessidade de termos definido e precisado de diretrizes e definições teóricas da cultura tornou-se risível. Isto foi se tornado pouco a pouco perfeitamente inútil, porque uma ação com todos os seus problemas foi se realizando, e se realizando praticamente contra os textos que, de antemão, haviam definido a nossa ação. Em outras palavras, no final do percurso, a ação que se realizou corrigia o idealismo, a abstração, a generalidade dos textos que nós precisávamos no ponto de partida.
É preciso lhes dar essa ideia do que era a Secretaria para nós; pois, quando a Amália se apresenta como aquela que faz tudo, é preciso dizer que ela fez a Secretaria Municipal de Cultura existir. Sem a Amália não teria havido rigorosamente nada e tenho aqui três testemunhas e uma quarta lá, de que sem a Amália nada teria acontecido.
Posso recorrer a uma imagem para lhes dar a ideia do que acontecia. Logo que assumimos a Secretaria de Cultura, passava-se algo que considero fantástico. Vinham coisas que depois eu aprendi o que eram, processos, despachos, ofícios. Eu dizia “o texto”. “Trouxeram o texto para eu assinar?”. Ou, “eu estou mandando o texto…”. Bem, vocês não podem imaginar o que acontecia dentro da Secretaria Municipal de Cultura com o fato de que havia um novo objeto burocrático que nenhum dos funcionários conseguia identificar e que era uma coisa muito importante; pois, afinal, “a secretária falava nisso 24 horas por dia”. “Ela falava do texto”. Demorou para eles entenderem que o texto era o processo, o despacho, o ofício. O que saía no Diário Oficial, tudo, eu chamava o texto. Demorou algum tempo para que eu pudesse distinguir um texto do outro.
Ocorria o seguinte: eu estudava um processo – abria, examinava, lia; mas, é claro que com cabeça de petista –, mas como a maior parte dos processos que eu tinha que ler na fase inicial eram os da gestão passada, eu lia e dizia: “é maracutaia; janista só faz maracutaia. E como é que eu vou saber que tem maracutaia aqui, para não fazer maracutaia?” (Risos). Pois, evidentemente, é indecifrável. É uma ilusão você supor que o texto burocrático vai revelar para você o que a instituição é. É para isso que serve a homogeneidade do texto. Aliás, não se tem “texto”, justamente por isso.
Então, na primeira fase, quais eram as abstrações com as quais eu lidava? A primeira abstração era a cidade de São Paulo. Trata-se de uma abstração. Era impossível qualquer relação com a cidade de São Paulo. E experimentar isto é algo tão violento que me lembro de que, logo depois que tomei posse, eu tinha medo de sair, tinha medo da cidade. No entanto, eu sempre estive muito à vontade na cidade de São Paulo; eu sempre me senti cidadã da cidade de São Paulo. E eu tinha medo de sair.
A cidade se tornou profundamente ameaçadora para mim, porque ela se configurou como um espaço e um tempo incompreensíveis, nos quais eu tinha que atuar. Bem, essa foi a primeira realidade. Depois, vem o funcionamento da prefeitura. Eu me lembro de que, nos primeiros dias, eu dizia para os meus colegas de governo: “Não usem a máquina! Isso é uma maneira abstrata de lidarmos com a realidade; existe gente!”. Mas a realidade era a máquina, o gigantismo da máquina – era uma enorme, uma gigantesca máquina (risos). Eu é que não percebia.
Apenas depois de algumas experiências é que fomos entendendo a tal da máquina. Cito aqui um exemplo. Na sala da secretária, está o seu staff reunido para decidir políticas de governo e políticas da Secretaria de Cultura. Abre-se a porta ao término da reunião e entra um grupo de funcionários dizendo: “Secretária, nós soubemos que a Secretaria vai ser pintada de vermelho e branco, a gente acha que não é bom para trabalhar com…”. E eu: “Como?”. A reação: “Não; parece que houve uma reunião em que isso ficou decidido”. Ou seja, em três ou quatro situações, logo no início, havia uma reunião para decidir algum assunto, a portas fechadas, e quando você saía já havia um zum-zum em todos os andares da Secretaria a respeito das decisões que eu teria tomado.
Evidentemente, como era um governo petista, os grupos já se organizavam para contestar a medida que havia sido tomada. “Santa ingenuidade a minha!”. Então, convoquei uma reunião-monstro para explicar algumas coisas aos funcionários – que estavam completamente estupefatos, com olhos arregalados, e que olhavam para mim e pensavam: “Acho que ela tem que ir para o Juqueri; está errado o lugar para onde ela veio!”.
O que eu dizia para eles? Eu dizia o seguinte: “Este governo pretende ser um governo democrático. Ele é um governo de participação etc., etc. A burocracia é antidemocrática; primeiro porque ela opera com o segredo e não com o direito à informação. Segundo, porque ela opera com a hierarquia e não com a igualdade. Terceiro…”. E aí eu enumerava todos os motivos pelos quais a burocracia era contrária à democracia e os motivos pelos quais tínhamos que desmontar a burocracia da Secretaria Municipal de Cultura.
E mais, essa longuíssima elocução era para explicar que o boato e a fofoca eram um processo de contrainformação, antidemocrático, que impedia o funcionamento democrático da Secretaria Municipal de Cultura. Acreditem, eu fiz isso, e mais de uma vez! (Risos).Levou muito tempo para eu perceber que não é que os funcionários não quisessem ouvir falar sobre aquelas coisas completamente estapafúrdicas. É que eles sequer entendiam por que eu estava dizendo aquilo.
É isso que estou chamando de abstração. A Secretaria Municipal era tão abstrata, tão abstrata na sua poderosa realidade que eu era capaz de fazer assembleia com funcionários sobre democracia, para discutirmos o risco da contrainformação sob a forma do boato e da fofoca. E eu achava que isso era um gesto de política cultural e que uma política cultural começava pelos agentes desta política. Ou eles a compreendem e participam dela, ou não se faz política nenhuma. Imagine!
Isso fez com que os projetos mais importantes da Secretaria tivessem que se realizar fora dos quadros da Secretaria, com a sociedade, com a população, sendo, portanto, fadados a desaparecer. E, na fase inicial – e aí eu posso concordar com a leitura que o Paulo Arantes faz, mas só na fase inicial –, eu acreditei profundamente na necessidade de outra institucionalização, de uma outra institucionalidade, que, depois, vi que era para deixar de lado.
E há outros exemplos ou imagens que podem dar a vocês a dimensão da questão da institucionalidade. Uma semana após eu ter tomado posse na Secretaria, recebi um recado da Lina Bo Bardi e do Pietro Maria Bardi, aflitíssimos, porque havia rachaduras no teto e nas paredes do MASP. Segundo eles, queriam uma reunião comigo porque o Secretário de Cultura anterior havia prometido verbas para o conserto e essas ainda não haviam chegado. Lá fui eu muito animada. Imagina, o Bardi, a Lina Bo Bardi, essa obra maravilhosa que é o MASP… Mário de Andrade, puro Mário de Andrade! (Risos). O que eu encontrei foi o Conselho do MASP (mais risos). E o Conselho do MASP, entre parte de seus membros, abrigava o que de mais truculento restava da ditadura: o pessoal que financiou a OBAN, o pessoal que mandou matar e torturar metade das pessoas às quais eu estava ligada, o dono dos Diários Associados, que tinha acabado de matar três colegas do meu pai, jornalistas, quando foi à falência e desempregou homens de mais de 70 anos que não sabiam o que fazer.
Ao ver, na minha frente, o Conselho do MASP – e isso foi muito divertido – enxerguei o inimigo, em estado bruto, estado puro, sem mediação, sem véus (risos). A única coisa que fiz foi dizer: “eu vim aqui comunicar aos senhores que a Prefeitura de São Paulo tem outras prioridades e que os senhores não terão a verba para consertar o MASP. Procurem na iniciativa privada, da qual os senhores são eminentes representantes”. E foi aquele gelo!
Ainda posso trazer outro exemplo, referente à reforma do Teatro Municipal, necessária para que ele pudesse funcionar do jeito que o Emilio Kalil acreditava que ele devia funcionar. A fim de arrecadar dinheiro para colocar em funcionamento a orquestra, o ballet, comprar instrumentos, sapatilhas etc., os Conselhos da Bienal e do Teatro Municipal resolveram homenagear, num jantar, o belíssimo Ballet da cidade de Lyon. Conto isto a vocês para dar a medida da experiência que tive, pois eu também fazia parte deste Conselho. Qual era a expectativa do presidente da Bienal e de outros que organizavam o jantar? Um jantar de gala, com flores, velas, candelabros e toda a “peruagem” (risos) de que só Federico Fellini poderia dar conta (mais risos). A expectativa era: “A moça da Cultura vem de camiseta, poncho e conga, claro!” (Risos).
Então, minha mãe, minha santa mãe, comprou para mim um terninho fantástico (que passou a ser meu terninho das ocasiões em que eu sabia que estava sendo esperada de “poncho, camiseta e conga”) e eu fui. Bem, recebi os artistas, fui apresentada a todos, falei em francês para agradecer ao Ballet de Lyon (pois no caso de artistas, como os da Bienal, eu falava a cada um na sua língua: inglês, francês, espanhol, italiano), e percebi que eles não sabiam o que fazer comigo. Era muito complicado, porque eles sabiam que era o inimigo e, ao mesmo tempo, o inimigo sabe se vestir, fala francês (risos). Portanto, o que eu quero dizer é que, ao invés de falar o francês ser a condição da minha entrada e aceitação no a favor, era o uso do francês contra eles. Há um jogo na escolha das instituições, a Casa de Cultura é lá na periferia…
Dessa forma, eu diria que “não podia dar certo!”. E se, até pouco tempo, eu achava que o fato de não termos deixado nenhum sinal na cidade era uma falha histórica e política, gravíssima, hoje eu já não tenho essa visão. Acho que o lugar onde deixamos sinais não é aquele em que a cidade está acostumada a reconhecer os sinais institucionais. Então, ficou muita coisa, em muitos lugares. Mas não no lugar da visibilidade institucional na própria cidade. Acho também que o fato de não ter ficado traço no universo institucional, de um lado prova nossa incompetência, nossa absoluta incapacidade para mudar a instituição; entretanto, de outro, prova também que não fomos engolidos ou atravessados por ela.
Dessa maneira, tudo se torna mais contraditório e mais complicado. É preciso considerar que eu ainda tenho uma percepção muito confusa de tudo isso. Eu estive muito próxima da Luiza Erundina. Eu acompanhei quase que o cotidiano do governo. Havia o problema do lixo, eu ia para o Parque Ibirapuera discutir ao lado de Erundina com os empreiteiros do lixo… Havia a greve dos transportes, eu ia…
Houve um momento em que eu conhecia a cidade de São Paulo, o governo e seus problemas e as lutas de classe no interior da cidade como a palma da minha mão. Ao ter ficado muito próxima do dia a dia do governo municipal, eu era capaz de falar para vocês da cidade legal, da cidade institucional, da cidade clandestina, da cidade informal, de seus movimentos, assim como eu era capaz não só de narrar o que acontecia, mas de separar, distinguir, numerar e enunciar estatísticas. Quanto à Luiza Erundina, penso que sua situação foi dramática, por vezes trágica, no sentido profundo da palavra tragédia.
Enfim, acho que talvez a prova do quanto nós nos mantivemos contra está no fato de que não deixamos nenhum sinal visível na cidade visível, na cidade institucional. Não sobrou nada. E isto tanto pode ser incompetência política nossa como pode ser um contra tão excessivo que a cidade não pôde absorver ou não quis absorver. Ela lutou contra isso; o Maluf não está aí por nada. Foi também uma luta deliberada da cidade, contra.
Não obstante, em termos do que se espera que se faça numa gestão pública de cultura, nós não só fizemos, como fizemos o triplo, o quádruplo, cem vezes mais. Nosso problema foi esse. Por isso eu comecei dizendo que, quando havia o elogio, é porque havia visibilidade; mas relativas a promoções da Secretaria que não eram o importante para nós. Em outras palavras, tudo que aparecia como ação era aquilo que para nós era ou residual ou secundário, ou algo que havíamos mantido por dele não podermos nos desfazer.
Esta é, enfim, uma parte da análise sobre os limites intransponíveis daquilo que considero uma situação completamente diferente daquela da Universidade, pelo menos de certos setores da Universidade (já que nos dois casos operam temporalidades diversas). De qualquer modo, os parâmetros institucionais de que eu disponho, o da Universidade e o da Secretaria Municipal de Cultura, são completamente diferentes.
Mas, a minha experiência institucional foi também muito complicada pelo seguinte: os jornais, tanto o Estadão quanto a Folha, insistiam que eu mantivesse uma coluna – e eu tive uma coluna na Folha – ou que eu escrevesse regularmente. Eu dizia: “Não; não posso!”.
Do mesmo modo como no início eu reunia os funcionários para discutir sobre o servidor público como um agente de democracia, eu dizia para os jornais: “Eu considero que uma das minhas batalhas é pela existência de um espaço público. E penso que uma das coisas fundamentais é que o Estado não ocupe o espaço público como espaço social. Portanto, eu não posso escrever num espaço que considero que pertence à sociedade. Mesmo que eu emita a minha opinião a respeito de algo, eu falo de um lugar que é o lugar do Estado. Assim, eu não posso fazer isso, porque é antidemocrático. É contrário a todos os meus princípios políticos que, ocupando um cargo público, possa pretender ter no rádio, na TV, nos jornais, um lugar que eu tive quando não ocupava cargo nenhum”.
Isto era incompreensível para eles. Eles eram incapazes de entender o que significava minha afirmação de que uma fala que vem do Estado nunca é uma fala pessoal, nunca é uma fala propriamente opinativa; é uma fala oficial. Não adiantava muito, portanto, explicar que, institucionalmente, eu não tinha o direito à palavra e sim a obrigação de agir. Naquele lugar em que estava colocada eu me dizia: “A mim cabe realizar ações que são postas como necessárias, desejáveis, possíveis ou impossíveis, pela sociedade. Eu tenho que realizar ações que a minha filiação partidária, os movimentos sociais que se ligam a esta Secretaria exigem, demandam e obrigam que sejam feitas. O meu espaço não é mais o da palavra”.
Deste modo, penso que a militância que antes eu fazia (hoje em dia já não sei porque estou quieta) não combinava com a minha situação na Secretaria de Cultura. No entanto, acredito que eu era um pouco mais útil escrevendo em jornal, debatendo em televisão, em rádio, fazendo conferência, indo para mesas-redondas, enfim, correndo país afora, do que ocupando um cargo.
Eu senti o cargo como uma limitação profunda do ponto de vista político. Contrariamente ao que, em geral, vê-se nos intelectuais quando ocupam um cargo. Eles alimentam a ideia de que realizarão o que pensam. Eu, de minha parte, experimentei o cargo como bloqueio e como freio.
Marilena Chaui é professora Emérita da FFLCH da USP. Autora, entre outros livros, de Em defesa da educação pública, gratuita e democrática (Autêntica).
Referência
Marilena Chaui. Cidadania cultural: política cultural e cultura política novas. Organização: Marinê Pereira. Belo Horizonte, Autêntica, 2024, 392 págs. [https://amzn.to/3T98Ywk]


Nenhum comentário:
Postar um comentário